"Think about marriage and divorce: the most intelligent argument for the right to divorce (proposed, among others, by none other than the young Marx) does not refer to common vulgarities in the style of “like all things, love attachments are also not eternal, they change in the course of time,” etc.; it rather concedes that indissolvability is in the very notion of marriage. The conclusion is that divorce always has a retroactive scope: it does not only mean that marriage is now annulled, but something much more radical – a marriage should be annulled because it never was a true marriage. And the same holds for Soviet Communism: it is clearly insufficient to say that, in the years of Brezhnev “stagnation,” it “exhausted its potentials, no longer fitting new times”; what its miserable end demonstrates is that it was a historical deadlock from its very beginning."
domingo, 20 de dezembro de 2009
quinta-feira, 17 de dezembro de 2009
quinta-feira, 10 de dezembro de 2009
cadáver esquisito
as pessoas são como as
estações, e não são as reprodutivas,
apesar de não se fazer outra coisa senão
copular uivando, suando e arfando. Sabe
bem. Às vezes confundia-se com o mal,
mas era sempre bom. As magnólias.
chupar, trincar, comer, dormir,
lamber, amanhecer, chover. sujeito, verbo,
predicado, objecto, dejecto, reflexo, desejo,
ensejo. Ainda que não seja tão belo como um
percevejo, tenho algumas aspirações.
o ar que sobe e o ar que desce. As cidades
desorganizadas dão à luz mutantes,
brinquedos, segredos e doces medos.
Estão ainda por inventar as palavras
com que te despias e me despias.
Fotografar a alma a preto e branco.
A educação educa. A civilização civiliza.
O homem fode. E não dói
José Magalhães & Paulo Lima Santos
estações, e não são as reprodutivas,
apesar de não se fazer outra coisa senão
copular uivando, suando e arfando. Sabe
bem. Às vezes confundia-se com o mal,
mas era sempre bom. As magnólias.
chupar, trincar, comer, dormir,
lamber, amanhecer, chover. sujeito, verbo,
predicado, objecto, dejecto, reflexo, desejo,
ensejo. Ainda que não seja tão belo como um
percevejo, tenho algumas aspirações.
o ar que sobe e o ar que desce. As cidades
desorganizadas dão à luz mutantes,
brinquedos, segredos e doces medos.
Estão ainda por inventar as palavras
com que te despias e me despias.
Fotografar a alma a preto e branco.
A educação educa. A civilização civiliza.
O homem fode. E não dói
José Magalhães & Paulo Lima Santos
quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
Mão Morta: Vocabulário
faca, sangue, flamejante, morte, sexo, arrastando, tu disseste, lua, cão, amesterdão, animais, televisão, jogo, destroços, escravos, alienação, vertigem, revolução, morgue, bófia, vénus, tetas, ódio, lisboa, vento, desejo.
enchantagem
de tanto não fazer nada
acabo de ser culpado de tudo
esperanças, cheguei
tarde demais como uma lágrima
de tanto fazer tudo
parecer perfeito
você pode ficar louco
ou para todos os efeitos
suspeito
de ser verbo sem sujeito
pense um pouco
beba bastante
depois me conte direito
que aconteça o contrário
custe o que custar
deseja
quem quer que seja
tem calendário de tristezas
celebrar
tanto evitar o inevitável
in vino veritas
me parece
verdade
o pau na vida
o vinagre
vinho suave
pense e te pareça
senão eu te invento por toda a eternidade
Paulo Leminsky
retirado de: kamiquase
terça-feira, 8 de dezembro de 2009
os poetas e os padres de william blake
 The ancient Poets animated all sensible objects with Gods or Geniuses, calling them by the names and adorning them with the properties of woods, rivers, mountains, lakes, cities, nations, and whatever their enlarged & numerous senses could percieve. And particularly they studied the genius of each city & country, placing it under its mental deity.
The ancient Poets animated all sensible objects with Gods or Geniuses, calling them by the names and adorning them with the properties of woods, rivers, mountains, lakes, cities, nations, and whatever their enlarged & numerous senses could percieve. And particularly they studied the genius of each city & country, placing it under its mental deity.Till a system was formed, which some took advantage of & enslav'd the vulgar by attempting to realize or abstract the mental deities from their objects; thus began Priesthood.
Choosing forms of worship from poetic tales. And a length they pronounc'd that the Gods had order'd such things. Thus men forgot that All deities reside in the human breast.
William Blake
segunda-feira, 7 de dezembro de 2009
Adeus Camarada.
O Camarada Hugo Gouveia, de Santo Tirso, faleceu na noite de quarta-feira. Atirou-se da ponte da Arrábida. Deixou uma carta aos pais dizendo que não queria viver mais nesta sociedade. Apagou tudo o que tinha no computador. Vou ter saudades tuas, Hugo.

Nesta foto, o Hugo está com seu ar pensativo muito característico. Esta foto foi tirada num jantar da JCP aqui no Porto. Na altura fomos um pequeno grupo de camaradas no carro que o Partido nos emprestou para irmos de Santo Tirso até ao Porto. Um carro velhinho que o Hugo conduziu para lá e para cá, não sem o necessário empurrão dos camaradas para que este pegasse. No jantar, comemos e bebemos. E rimos. Éramos felizes.
Era amigo do Hugo há cerca de 7 anos, altura que entrei na JCP. Na altura, tinha eu 18 anos, conheci o Hugo que era um ano mais novo que eu na primeira reunião que tive. Na altura ele tinha o cabelo bastante comprido e uma t-shirt com uma foice e um martelo. Notava-se logo com as primeiras palavras trocadas com ele, que se tratava de alguém muito inteligente. E, de facto, ao longo destes anos tive com ele conversas muito profundas. E o conhecimento do Hugo não vinha dos livros. Apenas citava Marx e Lenine. Tudo o resto era dele. Falava como um filósofo sem ler qualquer livro de filosofia. O Hugo era um ser muito reflexivo. Como grande parte de mim também é assim, muitas vezes, com grupos maiores de amigos, começávamos a falar sobre problemas da vida e da existência e isolávamo-nos. O teor da nossa conversa não passa no crivo da tagarelice de circunstância. Discutíamos muito e discordávamos ardentemente. O Hugo era ateu materialista convicto. Sempre que lhe falava em monges e parábolas ele ficava intelectualmente irritado. O Hugo gostava de falar de utopias, da sociedade perfeita, do estado comunista perfeito. Era assim o Hugo. Nunca estive com ele muito regularmente, mas sempre nos vimos de tempos a tempos, normalmente no Partido. Trabalhámos na festa do Avante, a montar e a desmontar barracas e a lavar pratos. Fizemos reuniões, colámos cartazes. No fim, bebíamos uma cerveja e conversávamos. Falávamos de livros e do mundo. Numa dessas vezes eu tirei-te esta foto contigo junto dos cartazes mais bizarros que já alguma vez se colaram. Foi na Escola Secundária D.Dinis, à noite.

Com a tua despedida precoce, com 24 anos, deixas em choque todos quanto reconheciam o que havia de especial na tua pessoa. Entre eles eu me incluo. Dói-me pensar que te deixámos ir sem que ninguém te deitasse a mão. Há algum tempo que não estava contigo. Meses. Mas, entretanto, há uma semana, pensei em ti. Pensei em ligar-te um dia destes para irmos beber um copo. Entretanto, não cheguei a ligar. Não sei como estavas. Eras um ser solitário. Não sei o que te levou a quereres ires embora desta vida, desta maneira. Mas não escapas desta vida impunemente. Deixas uma ferida em todos quantos deixaste a tua marca neste mundo e não me esquecerei de ti. Adeus Hugo.
Nesta foto, o Hugo está com seu ar pensativo muito característico. Esta foto foi tirada num jantar da JCP aqui no Porto. Na altura fomos um pequeno grupo de camaradas no carro que o Partido nos emprestou para irmos de Santo Tirso até ao Porto. Um carro velhinho que o Hugo conduziu para lá e para cá, não sem o necessário empurrão dos camaradas para que este pegasse. No jantar, comemos e bebemos. E rimos. Éramos felizes.
Era amigo do Hugo há cerca de 7 anos, altura que entrei na JCP. Na altura, tinha eu 18 anos, conheci o Hugo que era um ano mais novo que eu na primeira reunião que tive. Na altura ele tinha o cabelo bastante comprido e uma t-shirt com uma foice e um martelo. Notava-se logo com as primeiras palavras trocadas com ele, que se tratava de alguém muito inteligente. E, de facto, ao longo destes anos tive com ele conversas muito profundas. E o conhecimento do Hugo não vinha dos livros. Apenas citava Marx e Lenine. Tudo o resto era dele. Falava como um filósofo sem ler qualquer livro de filosofia. O Hugo era um ser muito reflexivo. Como grande parte de mim também é assim, muitas vezes, com grupos maiores de amigos, começávamos a falar sobre problemas da vida e da existência e isolávamo-nos. O teor da nossa conversa não passa no crivo da tagarelice de circunstância. Discutíamos muito e discordávamos ardentemente. O Hugo era ateu materialista convicto. Sempre que lhe falava em monges e parábolas ele ficava intelectualmente irritado. O Hugo gostava de falar de utopias, da sociedade perfeita, do estado comunista perfeito. Era assim o Hugo. Nunca estive com ele muito regularmente, mas sempre nos vimos de tempos a tempos, normalmente no Partido. Trabalhámos na festa do Avante, a montar e a desmontar barracas e a lavar pratos. Fizemos reuniões, colámos cartazes. No fim, bebíamos uma cerveja e conversávamos. Falávamos de livros e do mundo. Numa dessas vezes eu tirei-te esta foto contigo junto dos cartazes mais bizarros que já alguma vez se colaram. Foi na Escola Secundária D.Dinis, à noite.

Com a tua despedida precoce, com 24 anos, deixas em choque todos quanto reconheciam o que havia de especial na tua pessoa. Entre eles eu me incluo. Dói-me pensar que te deixámos ir sem que ninguém te deitasse a mão. Há algum tempo que não estava contigo. Meses. Mas, entretanto, há uma semana, pensei em ti. Pensei em ligar-te um dia destes para irmos beber um copo. Entretanto, não cheguei a ligar. Não sei como estavas. Eras um ser solitário. Não sei o que te levou a quereres ires embora desta vida, desta maneira. Mas não escapas desta vida impunemente. Deixas uma ferida em todos quantos deixaste a tua marca neste mundo e não me esquecerei de ti. Adeus Hugo.
domingo, 6 de dezembro de 2009
segunda-feira, 30 de novembro de 2009
sem título
noites descarnadas,
nuas.
as tuas mãos vencidas
e a minha testa cansada
conspiram.
separados,
congeminamos ausências.
fazemos tabula rasa dos sonhos
e penhoramos um pouco da nossa alma
tranquilamente.
nuas.
as tuas mãos vencidas
e a minha testa cansada
conspiram.
separados,
congeminamos ausências.
fazemos tabula rasa dos sonhos
e penhoramos um pouco da nossa alma
tranquilamente.
sábado, 28 de novembro de 2009
O que faço aqui?
Não sei se o mundo mentiu
Eu menti.
Não sei se o mundo conspirou contra o amor
Eu conspirei contra o amor.
O ambiente de tortura não é confortável
Eu torturei.
Mesmo sem o cogumelo atómico, ainda assim, teria odiado.
Escutem — teria feito as mesmas coisas, mesmo que a morte não existisse.
Não me deterei como um bêbedo sobre a fria corrente dos factos..
Recuso o alibi universal.
Como uma cabine telefónica vazia na noite da memória,
como os espelhos de uma sala de cinema,
como uma só saída,
como uma ninfomaníaca que junta mil numa estranha fraternidade:
espero que cada um de vós confesse.
Leonard Cohen
Eu menti.
Não sei se o mundo conspirou contra o amor
Eu conspirei contra o amor.
O ambiente de tortura não é confortável
Eu torturei.
Mesmo sem o cogumelo atómico, ainda assim, teria odiado.
Escutem — teria feito as mesmas coisas, mesmo que a morte não existisse.
Não me deterei como um bêbedo sobre a fria corrente dos factos..
Recuso o alibi universal.
Como uma cabine telefónica vazia na noite da memória,
como os espelhos de uma sala de cinema,
como uma só saída,
como uma ninfomaníaca que junta mil numa estranha fraternidade:
espero que cada um de vós confesse.
Leonard Cohen
segunda-feira, 23 de novembro de 2009
A economia do esquecimento segundo Roberto Juarroz
Poderia talvez esquecer algo que escrevi
e voltar a escrevê-lo da mesma maneira.
Poderia talvez esquecer a vida que vivi
e voltar a vivê-la da mesma maneira.
Poderia esquecer a morte que morrerei amanhã
e voltar a morrê-la da mesma maneira.
Mas há sempre um grão de pó de luz
que rompe a engrenagem das repetições:
poderia esquecer algo que amei
Mas não voltar a ama-lo da mesma maneira.
Roberto Juarroz
e voltar a escrevê-lo da mesma maneira.
Poderia talvez esquecer a vida que vivi
e voltar a vivê-la da mesma maneira.
Poderia esquecer a morte que morrerei amanhã
e voltar a morrê-la da mesma maneira.
Mas há sempre um grão de pó de luz
que rompe a engrenagem das repetições:
poderia esquecer algo que amei
Mas não voltar a ama-lo da mesma maneira.
Roberto Juarroz
segunda-feira, 2 de novembro de 2009
estado de espírito / estado de sítio
Minha vida está num regime de rotação de culturas. Ninguém escapa impune ao crime do amor. Minhas pulsões e vontades viajam pelos vales, serras planaltos e baldios da minha alma. Abriu-se uma barragem no meu coração e sangro de peito aberto sobre toda a geografia do meu ser. Mudo de trabalho, mudo de amores e humores, mudo de casa, mudo de poesia, mudo tudo. Este é o meu retiro solitário para o mundo. Esta é a minha música:
Não consigo dominar
Este estado de ansiedade
A pressa de chegar
P'ra não chegar tarde
Não sei de que é que eu fujo
Será desta solidao
Mas porque é que eu recuso
Quem quer dar-me a mao
Vou continuar a procurar
A quem eu me quero dar
Porque até aqui eu só:
Quero quem quem eu nunca vi
Porque eu só quero quem
Quem nao conheci
Porque eu só quero quem
Quem eu nunca vi
Porque eu só quero quem
Quem nao conheci
Porque eu só quero quem
Quem eu nunca vi
Esta insatisfacao
Nao consigo compreender
Sempre esta sensacao
Que estou a perder
Tenho pressa de sair
Quero sentir ao chegar
Vontade de partir
P'ra outro lugar
Vou continuar a procurar
A minha forma
O meu lugar
Porque até aqui eu só:
Estou bem aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde nao estou
Estou bem aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde nao estou
Não consigo dominar
Este estado de ansiedade
A pressa de chegar
P'ra não chegar tarde
Não sei de que é que eu fujo
Será desta solidao
Mas porque é que eu recuso
Quem quer dar-me a mao
Vou continuar a procurar
A quem eu me quero dar
Porque até aqui eu só:
Quero quem quem eu nunca vi
Porque eu só quero quem
Quem nao conheci
Porque eu só quero quem
Quem eu nunca vi
Porque eu só quero quem
Quem nao conheci
Porque eu só quero quem
Quem eu nunca vi
Esta insatisfacao
Nao consigo compreender
Sempre esta sensacao
Que estou a perder
Tenho pressa de sair
Quero sentir ao chegar
Vontade de partir
P'ra outro lugar
Vou continuar a procurar
A minha forma
O meu lugar
Porque até aqui eu só:
Estou bem aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde nao estou
Estou bem aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde eu nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde nao estou
Porque eu só quero ir
Aonde eu nao vou
Porque eu só estou bem
Aonde nao estou
sábado, 5 de setembro de 2009
Alan Badiou - Filosofia como Biografia
Encontrei uma transcrição de uma conferência muito interessante do filósofo e psicanalista marxista Alain Badiou, onde ele faz filosofia a partir de algumas histórias pessoais. Tomei a liberdade de traduzir parte do texto original em inglês. Também podem ver os vídeos da conferência, clicando nas imagens abaixo.
 Parte 1
Parte 1

 Parte 1
Parte 1"Nietzsche disse que uma filosofia é sempre a biografia do filósofo. Talvez uma biografia do filósofo feita pelo próprio filósofo seja um pouco de filosofia. Assim, vou contar-vos nove histórias da minha vida privada, com a sua moral filosófica. A primeira história é a história do pai e da mãe.
Meu pai era formado na École Normale Superieure e professor de matemática. Minha mãe era formada na École Normale Superieure e professora de literatura. Eu sou formado na École Normale Superieure e professor, professor de quê... filosofia. Quer isso dizer, provavelmente, a única coisa possível de assumir dupla filiação e de circular livremente entre a maternidade literária e a paternidade matemática. Isto é em si uma lição de filosofia: a linguagem da filosofia constrói sempre o seu próprio espaço entre o matema e o poema, no fim de contas entre a mãe e o pai.
Alguém viu isso muito claramente: o meu colega do Collège de France, o filósofo analítico francês Jacques Bouveresse. Num livro recente em que ele faz o horror de falar de mim, compara-me a um coelho de cinco patas e diz concretamente: "Este coelho de cinco patas que é o Alan Badiou, corre a toda a velocidade na direcção do formalismo matemático, e depois, de repente, numa mudança incompreensível, dá uns passos atrás e corre na mesma velocidade atirando-se para a literatura." Bem, sim, é isso que dá um pai e uma mãe tão bem distribuídos: transformamo-nos num coelho.
Agora a segunda história: sobre mãe e filosofia.
Minha mãe era muito velha e meu pai não estava em Paris. Levava-a a comer num restaurante. Ela dizia-me nessas ocasiões tudo o que nunca me havia dito. Era a expressão final de ternura, tão comovente, que se tem com pais muito idosos. Uma noite contou-me que, antes de conhecer meu pai, quando estava a dar aulas na Argélia, teve uma paixão, uma paixão gigantesca, uma paixão voraz, por um professor de filosofia. Esta história é absolutamente autêntica. Eu ouvi, obviamente, na posição que se pode imaginar, e disse para mim mesmo: bem, foi isso, não fiz mais nada senão cumprir o desejo da minha mãe que o professor argelino de filosofia havia negado. Ele havia ficado com outra pessoa e eu fiz o que pude para ser a consolação da dor terrível da minha mãe que havia subsistido no seu interior até aos 81 anos.
A consequência que daqui retiro para a filosofia é, contrariamente à afirmação habitual segundo a qual "o fim da metafísica" está a ser cumprido e tudo isso, precisamente a filosofia não pode ter um fim, porque está assombrada, no seu interior, pela necessidade de dar mais um passo dentro de um problema que já existe. E eu acredito que é essa a sua natureza. A natureza da filosofia é que algo lhe está sendo eternamente deixado. Ela é responsável por esse legado. Estamos sempre a tratar do legado em si, dando sempre mais um passo na determinação do que lhe foi assim deixado. Eu próprio, da forma mais inconsciente, nunca fiz outra coisa enquanto filósofo senão responder a um apelo de que nunca tive conhecimento.
(...)
A quarta história é sobre amor e religião.
Antes de vir para Paris, vivia numa província. Sou um provinciano que veio para Paris um pouco tarde. E um dos aspectos que caracterizava a minha juventude provinciana é que a maioria das raparigas eram ainda educadas pela religião. Estas raparigas ainda eram guardadas e reservadas para um destino interessante, o que proporcionava uma figura importante à parada masculina: as diferentes maneiras de brilhar face a estas raparigas ainda piedosas, sendo a principal a de refutar a existência de Deus. Este era um importante exercício de sedução, pois não só era uma transgressão, mas também era brilhante do ponto de vista retórico quando se tinha os meios para o fazer.
Antes de conquistar as suas virtudes, as almas tinham de ser resgatadas para fora da Igreja. Qual dos dois era pior, isso cabe aos padres decidir. Mas fora disto vem a ideia que eu tinha muito cedo, que a mais argumentativa e a mais abstracta filosofia também constitui uma sedução. Uma sedução cuja base é sexual, não haja dúvidas sobre isso. É claro que a filosofia sempre argumentou contra a sedução das imagens e permaneço platónico nesse ponto. Mas também argumenta de forma a seduzir. Podemos assim compreender a função socrática da corrupção da juventude. Corromper a juventude significa ser, de forma sedutora, hostil ao regime normal de sedução. Mantenho e repito que o destino da filosofia é corromper a juventude, ensinar que a as seduções imediatas têm pouco valor, mas também que existe uma sedução superior. No final de contas, o jovem que consegue refutar a existência de Deus é mais sedutor do que aquele que apenas se propõe à rapariga. É um jogo de ténis. É uma boa razão para se tornar filósofo.
Isto é aquilo em que se tornou o lugar da questão do amor, como questão chave da própria filosofia, exactamente no sentido que já tinha para Platão em Symposium. A questão do amor está necessariamente no coração da filosofia, porque governa a questão do seu poder, a questão de como é que esta se endereça ao seu público, a questão da sua força de sedução. Neste ponto, creio que segui uma direcção muito difícil de Sócrates: "aquele que segue o caminho da revelação total deve começar muito novo a deixar-se levar pela beleza dos corpos".
A quinta história é marxista.
Naturalmente, a tradição da minha família era de esquerda. Meu pai legou-me duas imagens: a imagem do resistente anti-nazi durante a guerra, e depois a imagem do militante socialista no poder, pois ele foi presidente da câmara de uma grande cidade francesa, Toulouse, durante treze anos. A minha história é a história de uma ruptura com esta espécie de esquerda oficial.
Há dois períodos na história da minha ruptura com a esqueda oficial. A última, bem conhecida é o Maio de 68 e a sua continuação. A outra, menos conhecida, mais secreta e então muito mais activa. Em 1960 havia uma greve geral na Bélgica. Não vou entrar em detalhes. Fui enviado para cobrir esta greve como jornalista - fui várias vezes jornalista, escrevi, parece-me, centenas de artigos, talvez milhares. Conheci mineiros em greve. Haviam reorganizado toda a vida social do país, através da construção de um novo tipo de legitimidade popular. Emitiram até uma moeda nova. Assisti às suas assembleias e falei com eles. E daí em diante fiquei convencido, até ao dia em que hoje vos falo, que a filosofia está desse lado. "Desse lado" não é uma determinação social. Signigica: do lado do que é aí falado ou pronunciado, do lado dessa obscura parte da humanidade comum. Do lado da igualdade.
A máxima abstracta da filosofia é, necessariamente, a absoluta igualdade. Depois da minha experiência da greve dos mineiros da Bélgica, dei uma ordem filosófica a mim mesmo: "transforma a noção de verdade de tal maneira, que obedeça à máxima equalitária". É por isso que dou á verdade três atributos:
1) Depende de uma irupção, e não de uma estrutura. Qualquer verdade é nova, esta será a doutrina do evento.
2) Toda a verdade é universal, num sentido radical. a igualdade anónima-para-todos, a pureza-para-todos, constitui-a no seu ser, e esta será sua generalidade.
3) A verdade constitui o seu sujeito, e não o contrário. Este será o seu lado militante.
Tudo isso, numa total obscuridade, estava em acção quando conheci em 1960, os mineiros belgas.
(...)
A oitava história é uma história formal, ou uma história acerca de formas
(...) Há uma ligação intíma entre filosofia e matemática (uma ligação fortemente focada por Platão). Se os conceitos filosóficos são afinal, as formas dos conceitos da verdade, então este devem suportar a prova da sua formalização. Qualquer que seja esta prova. Todos os grandes filósofos submeteram o conceito a uma esmagadora e especulativa formalização. Penso que é por isso que a matemática permaneceu uma paixão para mim. Eu escrutino precisamente isto - na matemática: O que é o pensamento capaz, quando ele se dedica à pura forma? à literalidade da forma? E a conclusão que progressivamente retiro é que, o que ele é capaz, quando se ordena como pura forma, é pensar o ser como tal, o ser como ser. Daí resulta minha fórmula provocante segundo a qual a ontologia efectiva nada mais é do que matemática constituída. O que, obviamente, aos olhos do psicanalista, significa meu desejo de aí apenas sublimar a imagem do meu pai matemático.
A última história, a história número nove, é sobre os meus mestres.
(...) Nos anos decisivos da minha educação, tive três mestres: Sartre, Lacan e Althusser. Não foram mestres da mesma coisa.
O que Sartre me ensinou foi, simplesmente, o existencialismo. Mas o que significa o existencialismo? Significa que deve haver uma ligação entre o conceito, por um lado, e por outro deve haver a agência existencial da escolha, a agência da decisão vital. A convicção de que o conceito filosófico não vale uma hora de trabalho se, seja por mediações de grande complexidade, não reverberar, clarificar e ordenar a agência da escolha, da decisão vital. E nesse sentido, o conceito deve ser, também e sempre, um assunto da existência. Isto foi o que Sartre me ensinou.
Lacan ensinou-me a conexão, a ligação necessária entre uma teoria dos sujeitos e uma teoria das formas. Ele ensinou-me como e porque é que o próprio pensamento dos sujeitos, que tão frequentemente foi contraposto à teoria das formas, era na realidade apenas intelegível no quadro desta teoria. Ensinou-me que o sujeito era uma questão que não é de todo de um carácter psicológico, mas sim uma questão axiomática e fomal. Mais do que qualquer outra!
Althusser ensinou-me duas coisas: que não há objecto próprio da filosofia - isto era uma das suas grandes teses - mas que há orientações do pensamento, linhas de separação e, como Kant já havia dito, uma espécie de luta perpétua, uma luta que é sempre recomeçada de novo, em novas condições. Ele ensinou-me, consequentemente, o sentido de delimitação, do que se pode chamar delimitação. Em particular a convicção de que a filosofia não é um vago discurso da totalidade ou interpretação geral daquilo que é. Que a filosofia deve ser delimitada, que deve ser separada daquilo que não é filosofia. (...) No final, consegui conservar todos os meus mestres. Mantive Sartre apesar do desrespeito de que foi alvo durante muito tempo. Mantive Lacan apesar do que realmente deve ser chamado como sendo o carácter terrível dos seus discípulos. E mantive Althusser apesar das substanciais divergências políticas que nos opuseram, começando no Maio de 68. (...)
Manteho hoje que em filosofia os mestres são necessários; mantenho uma constitutiva hostilidade contra a tendência para a profissionalização democrática da filosofia e ao imperativo dominante hoje em dia e que humilha a juventude: "Sejam pequenos e trabalhem como equipa". Diria também que os mestres devem ser combinados e ultrapassados mas, afinal, é sempre desastroso negá-los.
(...) "Habitarei o meu nome": isto é precisamente o que a filosofia tenta tornar possível a todos e a cada um. Ou antes, a filosofia procura as condições formais, a possibilidade de cada um e de todos, de habitar o seu nome, de estar simplesmente aí, reconhecido por todos como aquele que habita o seu nome. E quem, desta forma, ao habitar o seu nome, é igual a qualquer outro.
É por isto que mobilizamos tantos recursos. E é também para isso que a nossa monótona biografia pode ser usada: para constantemente procurar de novo as condições pelas quais o próprio nome de cada um pode ser habitado.
Meu pai era formado na École Normale Superieure e professor de matemática. Minha mãe era formada na École Normale Superieure e professora de literatura. Eu sou formado na École Normale Superieure e professor, professor de quê... filosofia. Quer isso dizer, provavelmente, a única coisa possível de assumir dupla filiação e de circular livremente entre a maternidade literária e a paternidade matemática. Isto é em si uma lição de filosofia: a linguagem da filosofia constrói sempre o seu próprio espaço entre o matema e o poema, no fim de contas entre a mãe e o pai.
Alguém viu isso muito claramente: o meu colega do Collège de France, o filósofo analítico francês Jacques Bouveresse. Num livro recente em que ele faz o horror de falar de mim, compara-me a um coelho de cinco patas e diz concretamente: "Este coelho de cinco patas que é o Alan Badiou, corre a toda a velocidade na direcção do formalismo matemático, e depois, de repente, numa mudança incompreensível, dá uns passos atrás e corre na mesma velocidade atirando-se para a literatura." Bem, sim, é isso que dá um pai e uma mãe tão bem distribuídos: transformamo-nos num coelho.
Agora a segunda história: sobre mãe e filosofia.
Minha mãe era muito velha e meu pai não estava em Paris. Levava-a a comer num restaurante. Ela dizia-me nessas ocasiões tudo o que nunca me havia dito. Era a expressão final de ternura, tão comovente, que se tem com pais muito idosos. Uma noite contou-me que, antes de conhecer meu pai, quando estava a dar aulas na Argélia, teve uma paixão, uma paixão gigantesca, uma paixão voraz, por um professor de filosofia. Esta história é absolutamente autêntica. Eu ouvi, obviamente, na posição que se pode imaginar, e disse para mim mesmo: bem, foi isso, não fiz mais nada senão cumprir o desejo da minha mãe que o professor argelino de filosofia havia negado. Ele havia ficado com outra pessoa e eu fiz o que pude para ser a consolação da dor terrível da minha mãe que havia subsistido no seu interior até aos 81 anos.
A consequência que daqui retiro para a filosofia é, contrariamente à afirmação habitual segundo a qual "o fim da metafísica" está a ser cumprido e tudo isso, precisamente a filosofia não pode ter um fim, porque está assombrada, no seu interior, pela necessidade de dar mais um passo dentro de um problema que já existe. E eu acredito que é essa a sua natureza. A natureza da filosofia é que algo lhe está sendo eternamente deixado. Ela é responsável por esse legado. Estamos sempre a tratar do legado em si, dando sempre mais um passo na determinação do que lhe foi assim deixado. Eu próprio, da forma mais inconsciente, nunca fiz outra coisa enquanto filósofo senão responder a um apelo de que nunca tive conhecimento.
(...)
A quarta história é sobre amor e religião.
Antes de vir para Paris, vivia numa província. Sou um provinciano que veio para Paris um pouco tarde. E um dos aspectos que caracterizava a minha juventude provinciana é que a maioria das raparigas eram ainda educadas pela religião. Estas raparigas ainda eram guardadas e reservadas para um destino interessante, o que proporcionava uma figura importante à parada masculina: as diferentes maneiras de brilhar face a estas raparigas ainda piedosas, sendo a principal a de refutar a existência de Deus. Este era um importante exercício de sedução, pois não só era uma transgressão, mas também era brilhante do ponto de vista retórico quando se tinha os meios para o fazer.
Antes de conquistar as suas virtudes, as almas tinham de ser resgatadas para fora da Igreja. Qual dos dois era pior, isso cabe aos padres decidir. Mas fora disto vem a ideia que eu tinha muito cedo, que a mais argumentativa e a mais abstracta filosofia também constitui uma sedução. Uma sedução cuja base é sexual, não haja dúvidas sobre isso. É claro que a filosofia sempre argumentou contra a sedução das imagens e permaneço platónico nesse ponto. Mas também argumenta de forma a seduzir. Podemos assim compreender a função socrática da corrupção da juventude. Corromper a juventude significa ser, de forma sedutora, hostil ao regime normal de sedução. Mantenho e repito que o destino da filosofia é corromper a juventude, ensinar que a as seduções imediatas têm pouco valor, mas também que existe uma sedução superior. No final de contas, o jovem que consegue refutar a existência de Deus é mais sedutor do que aquele que apenas se propõe à rapariga. É um jogo de ténis. É uma boa razão para se tornar filósofo.
Isto é aquilo em que se tornou o lugar da questão do amor, como questão chave da própria filosofia, exactamente no sentido que já tinha para Platão em Symposium. A questão do amor está necessariamente no coração da filosofia, porque governa a questão do seu poder, a questão de como é que esta se endereça ao seu público, a questão da sua força de sedução. Neste ponto, creio que segui uma direcção muito difícil de Sócrates: "aquele que segue o caminho da revelação total deve começar muito novo a deixar-se levar pela beleza dos corpos".
A quinta história é marxista.
Naturalmente, a tradição da minha família era de esquerda. Meu pai legou-me duas imagens: a imagem do resistente anti-nazi durante a guerra, e depois a imagem do militante socialista no poder, pois ele foi presidente da câmara de uma grande cidade francesa, Toulouse, durante treze anos. A minha história é a história de uma ruptura com esta espécie de esquerda oficial.
Há dois períodos na história da minha ruptura com a esqueda oficial. A última, bem conhecida é o Maio de 68 e a sua continuação. A outra, menos conhecida, mais secreta e então muito mais activa. Em 1960 havia uma greve geral na Bélgica. Não vou entrar em detalhes. Fui enviado para cobrir esta greve como jornalista - fui várias vezes jornalista, escrevi, parece-me, centenas de artigos, talvez milhares. Conheci mineiros em greve. Haviam reorganizado toda a vida social do país, através da construção de um novo tipo de legitimidade popular. Emitiram até uma moeda nova. Assisti às suas assembleias e falei com eles. E daí em diante fiquei convencido, até ao dia em que hoje vos falo, que a filosofia está desse lado. "Desse lado" não é uma determinação social. Signigica: do lado do que é aí falado ou pronunciado, do lado dessa obscura parte da humanidade comum. Do lado da igualdade.
A máxima abstracta da filosofia é, necessariamente, a absoluta igualdade. Depois da minha experiência da greve dos mineiros da Bélgica, dei uma ordem filosófica a mim mesmo: "transforma a noção de verdade de tal maneira, que obedeça à máxima equalitária". É por isso que dou á verdade três atributos:
1) Depende de uma irupção, e não de uma estrutura. Qualquer verdade é nova, esta será a doutrina do evento.
2) Toda a verdade é universal, num sentido radical. a igualdade anónima-para-todos, a pureza-para-todos, constitui-a no seu ser, e esta será sua generalidade.
3) A verdade constitui o seu sujeito, e não o contrário. Este será o seu lado militante.
Tudo isso, numa total obscuridade, estava em acção quando conheci em 1960, os mineiros belgas.
(...)
A oitava história é uma história formal, ou uma história acerca de formas
(...) Há uma ligação intíma entre filosofia e matemática (uma ligação fortemente focada por Platão). Se os conceitos filosóficos são afinal, as formas dos conceitos da verdade, então este devem suportar a prova da sua formalização. Qualquer que seja esta prova. Todos os grandes filósofos submeteram o conceito a uma esmagadora e especulativa formalização. Penso que é por isso que a matemática permaneceu uma paixão para mim. Eu escrutino precisamente isto - na matemática: O que é o pensamento capaz, quando ele se dedica à pura forma? à literalidade da forma? E a conclusão que progressivamente retiro é que, o que ele é capaz, quando se ordena como pura forma, é pensar o ser como tal, o ser como ser. Daí resulta minha fórmula provocante segundo a qual a ontologia efectiva nada mais é do que matemática constituída. O que, obviamente, aos olhos do psicanalista, significa meu desejo de aí apenas sublimar a imagem do meu pai matemático.
A última história, a história número nove, é sobre os meus mestres.
(...) Nos anos decisivos da minha educação, tive três mestres: Sartre, Lacan e Althusser. Não foram mestres da mesma coisa.
O que Sartre me ensinou foi, simplesmente, o existencialismo. Mas o que significa o existencialismo? Significa que deve haver uma ligação entre o conceito, por um lado, e por outro deve haver a agência existencial da escolha, a agência da decisão vital. A convicção de que o conceito filosófico não vale uma hora de trabalho se, seja por mediações de grande complexidade, não reverberar, clarificar e ordenar a agência da escolha, da decisão vital. E nesse sentido, o conceito deve ser, também e sempre, um assunto da existência. Isto foi o que Sartre me ensinou.
Lacan ensinou-me a conexão, a ligação necessária entre uma teoria dos sujeitos e uma teoria das formas. Ele ensinou-me como e porque é que o próprio pensamento dos sujeitos, que tão frequentemente foi contraposto à teoria das formas, era na realidade apenas intelegível no quadro desta teoria. Ensinou-me que o sujeito era uma questão que não é de todo de um carácter psicológico, mas sim uma questão axiomática e fomal. Mais do que qualquer outra!
Althusser ensinou-me duas coisas: que não há objecto próprio da filosofia - isto era uma das suas grandes teses - mas que há orientações do pensamento, linhas de separação e, como Kant já havia dito, uma espécie de luta perpétua, uma luta que é sempre recomeçada de novo, em novas condições. Ele ensinou-me, consequentemente, o sentido de delimitação, do que se pode chamar delimitação. Em particular a convicção de que a filosofia não é um vago discurso da totalidade ou interpretação geral daquilo que é. Que a filosofia deve ser delimitada, que deve ser separada daquilo que não é filosofia. (...) No final, consegui conservar todos os meus mestres. Mantive Sartre apesar do desrespeito de que foi alvo durante muito tempo. Mantive Lacan apesar do que realmente deve ser chamado como sendo o carácter terrível dos seus discípulos. E mantive Althusser apesar das substanciais divergências políticas que nos opuseram, começando no Maio de 68. (...)
Manteho hoje que em filosofia os mestres são necessários; mantenho uma constitutiva hostilidade contra a tendência para a profissionalização democrática da filosofia e ao imperativo dominante hoje em dia e que humilha a juventude: "Sejam pequenos e trabalhem como equipa". Diria também que os mestres devem ser combinados e ultrapassados mas, afinal, é sempre desastroso negá-los.
(...) "Habitarei o meu nome": isto é precisamente o que a filosofia tenta tornar possível a todos e a cada um. Ou antes, a filosofia procura as condições formais, a possibilidade de cada um e de todos, de habitar o seu nome, de estar simplesmente aí, reconhecido por todos como aquele que habita o seu nome. E quem, desta forma, ao habitar o seu nome, é igual a qualquer outro.
É por isto que mobilizamos tantos recursos. E é também para isso que a nossa monótona biografia pode ser usada: para constantemente procurar de novo as condições pelas quais o próprio nome de cada um pode ser habitado.

Parte 2
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
Jerónimo vs. Louçã
Era bom realmente, para quem está indeciso entre estes dois, ver algumas diferenças entre bloco e PC. No entanto, isso seria dar lenha à opinião vulgar de que PC e bloco são inimigos fratricidas à procura da medalha de bronze. Isso só favorece o bloco central.
Assim, a postura dos dois foi a mais acertada. E uma coisa é certa: em comparação com o debate de ontem entre Portas e Sócrates, repleto de golpes teatrais, demagogia, marketing, barulho, pedras, confusão e peixeirada, vimos um debate claramente mais civilizado, onde se falou mais de política, de economia, dos problemas do país e das suas possíveis soluções. A esquerda fica a ganhar.
Quanto aos que gostam de violência verbal, show-off, insultos gratuitos e que acham que isto foi uma seca, eu aconselho-os a ir a um parque de diversões.
Assim, a postura dos dois foi a mais acertada. E uma coisa é certa: em comparação com o debate de ontem entre Portas e Sócrates, repleto de golpes teatrais, demagogia, marketing, barulho, pedras, confusão e peixeirada, vimos um debate claramente mais civilizado, onde se falou mais de política, de economia, dos problemas do país e das suas possíveis soluções. A esquerda fica a ganhar.
Quanto aos que gostam de violência verbal, show-off, insultos gratuitos e que acham que isto foi uma seca, eu aconselho-os a ir a um parque de diversões.
terça-feira, 1 de setembro de 2009
Para uma Psicologia Social do Voto e da Abstenção
Vivemos um momento muito particular da nossa curta vida democrática: se tomarmos em consideração aquilo que foram os resultados das eleições europeias e ainda (mas com desconto) as várias sondagens que por aí pululam, nenhum dos dois partidos que tem habitualmente governado o país (PS-PSD) mostra grandes chances de obter uma maioria absoluta. Aquilo que é opinião de toda a gente, e que se ouve da boca de todos é o seguinte: os políticos são corruptos, mentirosos e oportunistas que só querem um tacho. A abstenção sempre foi até hoje, o maior representante deste descontentamento. São estes, no entanto, que paradoxalmente têm legitimado os governos falsamente maioritários que temos tido. Digo falsamente maioritários pois, segundo as contas que já aqui fiz uma vez, se a abstenção fosse considerada quando são apresentados os resultados das eleições, facilmente se perceberia que nunca tivemos um governo da preferência da maioria dos cidadãos. Nas últimas legislativas por exemplo, o PS não teve o voto de 45% dos cidadãos, mas sim de 28,93% do total de eleitores. Assim, chegamos ao seguinte paradoxo: abster-se de votar apenas legitima os governos desprezados precisamente por aqueles que não votam.
Isto leva-me ao ponto seguinte: um dos grandes falhanços das democracias é o facto de o ódio e o descontentamento político ser politicamente irrepresentável. Um exemplo perfeito disto são as eleições no Reino Unido de 2005: Tony Blair era segundo todas as sondagens, o homem mais impopular do Reino Unido. No entanto, este ódio não se reflectiu nos votos, na medida em que Tony Blair acabou por ganhar as eleições.
Por muito que os portugueses queiram dizer mal e mostrar o seu repúdio,quer através de votos nulos, brancos ou abstenção, na forma como funcionam a democracia quem está descontente com os governos PS/PSD/CDS-PP não se pode dar ao luxo de não votar pois, como já vimos, está apenas a reforçar o actual estado de coisas e a ajudar a manter os partidos no governo que tanto detesta.
Assim, face a esta conjuntura, e na tentativa de canalizar todo este ódio e desprezo, muitos optam pelo chamado "voto de protesto" e o "voto útil", que levanta um outro tipo de problemas: Um ponto fulcral da análise do processo de eleição é: todos votam condicionados pela representação que fazem dos "outros". Não é estranho que toda a gente diga mal dos partidos do poder (PS e PSD), mas que não vote noutros por considerar que não podem chegar a ser poder (por causa dos outros). O voto útil nada mais é do que "se eles votam assim, então terei necessidade de votar de determinada maneira". Temos também o "eu voto no BE porque sei que não vai ganhar". Há também o "não vou votar no partido x, pois não precisa do meu voto para ganhar". E assim se vai, sondagem a opinião, desvirtuando o real querer de um povo. E é assim que, PS e PSD são os partidos mais detestados dos portugueses, apesar de serem estes os mais votados.
No entanto, não são só os eleitores que participam politicamente neste paradoxo. Também os partidos do poder, curiosamente, se alimentam do próprio ódio ao poder. Basta pensar no Sócrates que diz assim: "só pode haver um primeiro ministro: se não querem seja a Ferreira Leite votem em mim". Já a Ferreira Leite diz: "se não gostam do Sócrates votem em mim."
A democracia nestes termos, funciona de forma perversa: o cidadão vota de acordo com uma representação social de um povo que, por sua vez, é construída por cidadãos que votam consoante o que os outros votam; os partidos do poder fazem política adaptando-se a essa ilusória representação social, que na verdade não é ilusória na medida em que todos participam dela. Zizek sobre isto dá o exemplo do Natal: os pais alimentam o mito do Pai Natal para que as crianças não percam a fantasia. As crianças sabem que o Pai Natal não existe, que são os pais que compram as prendas mas participam nessa ilusão de forma a não desiludir os pais. Assim, ninguém acredita verdadeiramente no Natal, muito embora toda a gente participe da mesma ilusão.
Para se compreender melhor este paradoxo, faço aqui alusão a uma experiência paradigmática da Psicologia Social. Nesta experiência de Solomon Asch de 1951, 8 sujeitos foram colocados diante de um quadro com varias cartolinas. Cada cartolina continha do lado esquerdo um linha vertical (figura de base) e à direita três linhas verticais de comprimentos diferentes, numeradas de 1 a 3, uma das quais representava a linha de base.
No grupo experimental, apenas um dos sujeitos é o verdadeiro sujeito experimental, e por isso é o sujeito ingénuo, enquanto os restantes 7, são comparsas do experimentador. Cada um dos sujeitos dá a avaliação em voz alta, sendo que os comparsas dão doze respostas erradas em dezoito ensaios experimentais. Estes respondem antes do sujeito. Deste modo, o sujeito ingénuo encontra-se numa posição minoritária e, apesar de não existir qualquer tipo de pressão explícita por parte do grupo, este chega a cometer erros que atingem os 5 cm. 75% dos sujeitos conformaram-se à opinião errada da maioria, pelo menos uma vez.
É claro que nem todos os indivíduos são influenciados por este efeito de conformismo. Uma das explicações possíveis para indivíduos que não cedem à opinião da maioria é a de que estes indivíduos são mais seguros, não necessitando do apoio do grupo. Outro aspecto que também contribui para minorar o efeito do conformismo é o seguinte: basta a presença de um dissidente no grupo para baixar drasticamente o nível de conformidade de 32% para 6% das tentativas. Sobre este último aspecto, Moscovici fez importantes variações da experiência de Asch precisamente acerca da influência da minoria sobre a maioria. Assim, na experiência de Moscovici, em vez de um único sujeito no meio de um grupo de cúmplices, os investigadores decidiram colocar quatro sujeitos num grupo com mais dois cúmplices (que davam sempre respostas incorrectas. Assim, os participantes cúmplices estavam em minoria. Os resultados mostraram que a minoria era capaz de influenciar cerca de 32% dos sujeitos a darem pelo menos uma resposta incorrecta.
Há consequências deste estudo que podem ser aproveitados do ponto de vista político. Para já, o "voto útil", parece encaixar perfeitamente num efeito de conformismo, visto na experiência de Asch. Já a experiência de Moscovici demonstra, quanto a mim, o quão são importantes os movimentos políticos minoritários, na medida em que possibilitam aos sujeitos que não comungam da opinião da maioria, um cúmplice que facilita uma expressão dessa mesma opinião divergente. Assim, é extremamente saudável termos partidos pequenos que possibilitam a expressão de uma opinião divergente da maioria, possibilitando a inovação e progresso social, para lá dos blocos bipolares partidários, que estimulam o conformismo.
Assim, para concluir deixo a seguinte recomendação: há que votar, não por ódio, nem por "utilidade", mas sim votar-se no partido que, no conjunto das suas propostas, nos identificamos individualmente, sem fazer calculismos nem olhar a sondagens. Há que votar, não no partido que vai fazer melhor oposição (mesmo que provavelmente seja esse o caso), mas sim no partido que consideramos que faria o melhor governo (ou o menos mau). Em suma, há que votar honestamente e de forma positiva, e não em nome de um medo de instabilidade ou por oposição a outro partido qualquer.
(Já agora, se há indecisos quanto a esta matéria, e que não queiram ler os espessos programas dos partidos, aconselho a seguinte bússola eleitoral. Basta responder a algumas perguntas, e ser-lhe-á apresentado o partido que mais se ajusta às suas opiniões políticas nas várias áreas. Não é perfeito, devido a algumas ligeiras imprecisões na forma ambígua como são colocadas determinadas perguntas, mas é um questionário bastante interessante. Podem acontecer surpresas! No meu caso pessoal, o meu partido de sempre é o PCP, muito embora admita que o programa eleitoral do BE para estas legislativas me surpreendeu positivamente. No entanto, inesperadamente ou talvez não, o partido que segundo esta bússola eleitoral mais se ajusta às minhas respostas é o... PCTP-MRPP!)
Isto leva-me ao ponto seguinte: um dos grandes falhanços das democracias é o facto de o ódio e o descontentamento político ser politicamente irrepresentável. Um exemplo perfeito disto são as eleições no Reino Unido de 2005: Tony Blair era segundo todas as sondagens, o homem mais impopular do Reino Unido. No entanto, este ódio não se reflectiu nos votos, na medida em que Tony Blair acabou por ganhar as eleições.
Por muito que os portugueses queiram dizer mal e mostrar o seu repúdio,quer através de votos nulos, brancos ou abstenção, na forma como funcionam a democracia quem está descontente com os governos PS/PSD/CDS-PP não se pode dar ao luxo de não votar pois, como já vimos, está apenas a reforçar o actual estado de coisas e a ajudar a manter os partidos no governo que tanto detesta.
Assim, face a esta conjuntura, e na tentativa de canalizar todo este ódio e desprezo, muitos optam pelo chamado "voto de protesto" e o "voto útil", que levanta um outro tipo de problemas: Um ponto fulcral da análise do processo de eleição é: todos votam condicionados pela representação que fazem dos "outros". Não é estranho que toda a gente diga mal dos partidos do poder (PS e PSD), mas que não vote noutros por considerar que não podem chegar a ser poder (por causa dos outros). O voto útil nada mais é do que "se eles votam assim, então terei necessidade de votar de determinada maneira". Temos também o "eu voto no BE porque sei que não vai ganhar". Há também o "não vou votar no partido x, pois não precisa do meu voto para ganhar". E assim se vai, sondagem a opinião, desvirtuando o real querer de um povo. E é assim que, PS e PSD são os partidos mais detestados dos portugueses, apesar de serem estes os mais votados.
No entanto, não são só os eleitores que participam politicamente neste paradoxo. Também os partidos do poder, curiosamente, se alimentam do próprio ódio ao poder. Basta pensar no Sócrates que diz assim: "só pode haver um primeiro ministro: se não querem seja a Ferreira Leite votem em mim". Já a Ferreira Leite diz: "se não gostam do Sócrates votem em mim."
A democracia nestes termos, funciona de forma perversa: o cidadão vota de acordo com uma representação social de um povo que, por sua vez, é construída por cidadãos que votam consoante o que os outros votam; os partidos do poder fazem política adaptando-se a essa ilusória representação social, que na verdade não é ilusória na medida em que todos participam dela. Zizek sobre isto dá o exemplo do Natal: os pais alimentam o mito do Pai Natal para que as crianças não percam a fantasia. As crianças sabem que o Pai Natal não existe, que são os pais que compram as prendas mas participam nessa ilusão de forma a não desiludir os pais. Assim, ninguém acredita verdadeiramente no Natal, muito embora toda a gente participe da mesma ilusão.
Para se compreender melhor este paradoxo, faço aqui alusão a uma experiência paradigmática da Psicologia Social. Nesta experiência de Solomon Asch de 1951, 8 sujeitos foram colocados diante de um quadro com varias cartolinas. Cada cartolina continha do lado esquerdo um linha vertical (figura de base) e à direita três linhas verticais de comprimentos diferentes, numeradas de 1 a 3, uma das quais representava a linha de base.
No grupo experimental, apenas um dos sujeitos é o verdadeiro sujeito experimental, e por isso é o sujeito ingénuo, enquanto os restantes 7, são comparsas do experimentador. Cada um dos sujeitos dá a avaliação em voz alta, sendo que os comparsas dão doze respostas erradas em dezoito ensaios experimentais. Estes respondem antes do sujeito. Deste modo, o sujeito ingénuo encontra-se numa posição minoritária e, apesar de não existir qualquer tipo de pressão explícita por parte do grupo, este chega a cometer erros que atingem os 5 cm. 75% dos sujeitos conformaram-se à opinião errada da maioria, pelo menos uma vez.
É claro que nem todos os indivíduos são influenciados por este efeito de conformismo. Uma das explicações possíveis para indivíduos que não cedem à opinião da maioria é a de que estes indivíduos são mais seguros, não necessitando do apoio do grupo. Outro aspecto que também contribui para minorar o efeito do conformismo é o seguinte: basta a presença de um dissidente no grupo para baixar drasticamente o nível de conformidade de 32% para 6% das tentativas. Sobre este último aspecto, Moscovici fez importantes variações da experiência de Asch precisamente acerca da influência da minoria sobre a maioria. Assim, na experiência de Moscovici, em vez de um único sujeito no meio de um grupo de cúmplices, os investigadores decidiram colocar quatro sujeitos num grupo com mais dois cúmplices (que davam sempre respostas incorrectas. Assim, os participantes cúmplices estavam em minoria. Os resultados mostraram que a minoria era capaz de influenciar cerca de 32% dos sujeitos a darem pelo menos uma resposta incorrecta.
Há consequências deste estudo que podem ser aproveitados do ponto de vista político. Para já, o "voto útil", parece encaixar perfeitamente num efeito de conformismo, visto na experiência de Asch. Já a experiência de Moscovici demonstra, quanto a mim, o quão são importantes os movimentos políticos minoritários, na medida em que possibilitam aos sujeitos que não comungam da opinião da maioria, um cúmplice que facilita uma expressão dessa mesma opinião divergente. Assim, é extremamente saudável termos partidos pequenos que possibilitam a expressão de uma opinião divergente da maioria, possibilitando a inovação e progresso social, para lá dos blocos bipolares partidários, que estimulam o conformismo.
Assim, para concluir deixo a seguinte recomendação: há que votar, não por ódio, nem por "utilidade", mas sim votar-se no partido que, no conjunto das suas propostas, nos identificamos individualmente, sem fazer calculismos nem olhar a sondagens. Há que votar, não no partido que vai fazer melhor oposição (mesmo que provavelmente seja esse o caso), mas sim no partido que consideramos que faria o melhor governo (ou o menos mau). Em suma, há que votar honestamente e de forma positiva, e não em nome de um medo de instabilidade ou por oposição a outro partido qualquer.
(Já agora, se há indecisos quanto a esta matéria, e que não queiram ler os espessos programas dos partidos, aconselho a seguinte bússola eleitoral. Basta responder a algumas perguntas, e ser-lhe-á apresentado o partido que mais se ajusta às suas opiniões políticas nas várias áreas. Não é perfeito, devido a algumas ligeiras imprecisões na forma ambígua como são colocadas determinadas perguntas, mas é um questionário bastante interessante. Podem acontecer surpresas! No meu caso pessoal, o meu partido de sempre é o PCP, muito embora admita que o programa eleitoral do BE para estas legislativas me surpreendeu positivamente. No entanto, inesperadamente ou talvez não, o partido que segundo esta bússola eleitoral mais se ajusta às minhas respostas é o... PCTP-MRPP!)
segunda-feira, 31 de agosto de 2009
Giorgio Agamben: Desejo e Imagem
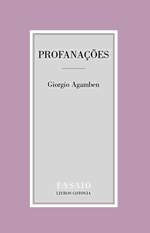 "Desejar é a coisa mais simples e humana que existe. Porque é que, então, até os nossos desejos são para nós inconfessáveis, porque é que é tão difícil transformá-los em palavras? Tão difícil que acabamos por mantê-los escondidos, que construímos para eles, algures dentro de nós, uma cripta onde permanecem embalsamados, à espera.
"Desejar é a coisa mais simples e humana que existe. Porque é que, então, até os nossos desejos são para nós inconfessáveis, porque é que é tão difícil transformá-los em palavras? Tão difícil que acabamos por mantê-los escondidos, que construímos para eles, algures dentro de nós, uma cripta onde permanecem embalsamados, à espera.Não podemos transpôr para a linguagem os nossos desejos porque os imaginamos. Na realidade, a cripta contém, apenas, imagens, tal como um livro ilustrado para crianças que ainda não sabem ler; tal com as images d'Epinal de um povo analfabeta. O corpo dos desejos é uma imagem. E aquilo que é inconfessável no desejo é a imagem que fazemos dele.
Comunicar a alguém os nossos desejos sem as imagens é uma brutalidade. Comunicar-lhe as imagens sem os desenhos é enfadonho (como contar os sonhos ou as viagens). Mas fácil em ambos os casos. Comunicar os desejos imaginados e as imagens desejadas é a tarefa mais árdua. Por isso o adiamos. Até ao momento em que começamos a perceber que permanecerá para sempre sem resposta. E que aquele desejo inconfessado somos nós próprios, para sempre prisioneiros da cripta (...)"
Giorgio Agamben em: Profanações
domingo, 30 de agosto de 2009
Miles Davis: Ascenseur pour L'échafaud
 O filme Ascenseur Pour L'échafaud, realizado por Louis Malle e com a participação de Jeanne Moreau, tem uma banda sonora deliciosa de Miles Davis. Podem fazer o download aqui. Quanto ao filme em si, let's look at the trailer:
O filme Ascenseur Pour L'échafaud, realizado por Louis Malle e com a participação de Jeanne Moreau, tem uma banda sonora deliciosa de Miles Davis. Podem fazer o download aqui. Quanto ao filme em si, let's look at the trailer:sábado, 29 de agosto de 2009
quinta-feira, 27 de agosto de 2009
Gonçalo Tavares e filosofia de criança
"Tinha de pagar a um oculista. Levava o cheque já preenchido. Cheguei ao sítio e disseram-me: Morreu ontem, num desastre de carro. Tinha o cheque em nome dele, e agora estava morto. O primeiro pensamento foi: se eu tenho um cheque para lhe pagar, ele não pode estar morto. O segundo pensamento, passado uns segundos foi: vou ficar com o dinheiro. O terceiro pensamento foi: como é que a tua cabeça foi capaz de ter aquele 2º pensamento? O quarto foi: toda a gente pensa todas as hipóteses numa situação, mesmo as hipóteses nojentas."
Gonçalo Tavares em Água, Cão, Cavalo, Cabeça.
Gonçalo Tavares escreve como uma criança que diz as coisas óbvias mas que não são de dizer. Ele é capaz de dizer coisas como "é preciso acreditar na verdade e não acreditar na mentira". Produz literatura como Wittgenstein faz filosofia. Pega em assumpções básicas e, à custa de as encarar tão a sério e de as dizer e escrever, fá-las tornarem-se estranhas e irreais. É semelhante ao efeito de dizermos 100 vezes a mesma palavra até ela começar a parecer um som estranho sem sentido, como se fosse de uma língua estrangeira.
quinta-feira, 20 de agosto de 2009
Do Testamento Vital a uma Filosofia e Biopolítica da Morte
"A morte só é um estado de passagem. É um estado que nunca existiu porque, se é difícil viver, cada vez se faz mais impossível e sem eficácia morrer"
Há algum tempo foi discutido na Assembleia da República um diploma sobre o denominado testamento vital, que possibilitaria a qualquer cidadão a realização de uma declaração antecipada de vontade acerca do tratamento médico a receber quando, em virtude de uma doença, já não seja possível exprimir livre e conscientemente a sua vontade.
Dentro do historial do debate da eutanásia, há a ideia de que o sujeito enfermo , impossibilitado de comunicar ou, em virtude da sua doença, o sujeito que não apresenta um estado normal de consciência e de lucidez, estaria impossibilitado de tomar em suas mãos a soberania sobre a sua própria vida. É então nestas condições que o testamento vital se aplica: num momento de razoabilidade e lucidez normais, o sujeito define as condições do seu tratamento médico posterior.
O que está logo aqui implícito é a conexão entre consciência e direito que a aqui se estabelece: só é soberano sobre a sua própria vida quem é dotado de racionalidade. Da mesma forma, noutras situações do plano jurídico, a consciência é condição necessária para a decisão da imputabilidade de qualquer sujeito enquanto suposto autor de um crime. Só pode ser punido quem é dotado de uma racionalidade consciente. No entanto, o que racionalidade significa é um alinhamento sobre um consenso social sobre o que é normal pensar e raciocinar. Wittgenstein exemplifica isto bem da seguinte forma:
 Num tribunal perguntam-nos o motivo da nossa acção e supõe-se que o conhecemos. A menos que estejamos a mentir, devemos ser capazes de explicar o motivo da nossa acção. Não é suposto conhecermos as leis que governam o nosso corpo e o nosso espírito. (...) Existem casos em que damos a razão de ter feito uma coisa. "Porque é que escreveu 6249 debaixo do traço" Damos a multiplicação que fizemos. "Cheguei aqui através desta multiplicação" Isto é comparável ao dar de um mecanismo. Poderíamos chamar-lhe a alegação de um motivo para escrever os números. Significa que passei por um determinado processo de raciocínio. Aqui "Como é que fez" significa "Como é que chegou aí?" Damos uma razão, o caminho que seguimos. (Wittgenstein)
Num tribunal perguntam-nos o motivo da nossa acção e supõe-se que o conhecemos. A menos que estejamos a mentir, devemos ser capazes de explicar o motivo da nossa acção. Não é suposto conhecermos as leis que governam o nosso corpo e o nosso espírito. (...) Existem casos em que damos a razão de ter feito uma coisa. "Porque é que escreveu 6249 debaixo do traço" Damos a multiplicação que fizemos. "Cheguei aqui através desta multiplicação" Isto é comparável ao dar de um mecanismo. Poderíamos chamar-lhe a alegação de um motivo para escrever os números. Significa que passei por um determinado processo de raciocínio. Aqui "Como é que fez" significa "Como é que chegou aí?" Damos uma razão, o caminho que seguimos. (Wittgenstein)
Assim, na impossibilidade de o sujeito comunicar racionalmente, ou seja, de acordo com os padrões socialmente aceites daquilo que é o normal funcionamento mental, o sujeito vê-se impossibilitado de decidir sobre a sua própria vida, estando dependente de outros a soberania dessa decisão vital. Daqui então se compreende melhor o que Roland Barthes quis dizer quando disse que a "língua é fascista". Na impossibilidade da comunicação, somos separados da vida política entre os homens. Perde-se aquilo que distingue o humano dos animais, o facto de estes viverem uma vida política. Perde-se assim a soberania sobre a vida própria, assemelhando-se então o doente em coma ao louco e ao animal. Esta afastamento da vida entre os homens, corresponde, se não uma morte, a uma perda de vida. Hannah Arendt refere-se aos romanos como o povo mais político que conhecemos e lembra que o idioma dos romanos (...) empregava como sinónimas as expressões de "viver" e "estar entre os homens", ou morrer e "deixar de estar entre os homens".
Assim, o estado de coma, tornado possível apenas pela medicina moderna, é num sentido romano do termo, uma morte política e uma morte cartesiana. Acaba o sujeito e fica apenas o objecto, os restos corporais ligados às máquinas. Tende a desaparecer o que hoje é cada vez mais um acontecimento estranho: a morte natural. Com o progresso das técnicas médicas, a morte deixa de poder ser trocada simbolicamente para ser encarada apenas na categoria de acidente e da anomalia. Deixa de existir a morte por velhice, na medida em que a morte sem causa, objectivamente, não existe. Assim, o doente só tem direito a existir enquanto objecto médico. Ninguém demonstrou melhor isto do que Jean Baudrillard em "Troca Simbólica e a Morte", naquela que considero a passagem mais interessante desta obra:
 Já não temos a experiência da morte dos outros. A experiência espectacular e televisiva nada tem a ver com ela. A maioria das pessoas nunca teve a oportunidade de ver morrer alguém. É algo de impensável em qualquer outro tipo de sociedade. Somos substituídos pelo hospital e pela medicina - a extrema unção técnica substituiu todos os outros sacramentos. O homem desaparece dos que lhe são próximos antes de morrer. Aliás, é disto que ele morre. (...) Nunca se morre em casa, morre-se no hospital. Por inúmeras e boas razões "materiais" (de saúde, urbanas, etc.), mas sobretudo porque o corpo biológico, o moribundo ou o doente, já só tem lugar num meio técnico. Sob o pretexto de cuidar dele, é deportado para um espaço-tempo funcional que se encarrega de neutralizar a doença e a morte na sua diferença simbólica. Justamente onde a finalidade é eliminar a morte, o hospital (e a medicina em geral) toma a seu cargo o doente como virtualmente morto. Cientificidade e eficiência terapêutica supõem a objectivação radical do corpo, a discriminação social do doente, portanto, um processo de mortificação. (Baudrillard)
Já não temos a experiência da morte dos outros. A experiência espectacular e televisiva nada tem a ver com ela. A maioria das pessoas nunca teve a oportunidade de ver morrer alguém. É algo de impensável em qualquer outro tipo de sociedade. Somos substituídos pelo hospital e pela medicina - a extrema unção técnica substituiu todos os outros sacramentos. O homem desaparece dos que lhe são próximos antes de morrer. Aliás, é disto que ele morre. (...) Nunca se morre em casa, morre-se no hospital. Por inúmeras e boas razões "materiais" (de saúde, urbanas, etc.), mas sobretudo porque o corpo biológico, o moribundo ou o doente, já só tem lugar num meio técnico. Sob o pretexto de cuidar dele, é deportado para um espaço-tempo funcional que se encarrega de neutralizar a doença e a morte na sua diferença simbólica. Justamente onde a finalidade é eliminar a morte, o hospital (e a medicina em geral) toma a seu cargo o doente como virtualmente morto. Cientificidade e eficiência terapêutica supõem a objectivação radical do corpo, a discriminação social do doente, portanto, um processo de mortificação. (Baudrillard)
A morte é, mais do que um acontecimento meramente biológico, um acontecimento simbólico. Se dantes a perda da comunicabilidade e a morte biológica quase que coincidiam, o que temos, hoje em dia, é um movimento pelo qual, através da extensão da vida biológica, se cria um hiato entre a morte simbólica e a morte biológica, ao que corresponde o estado de coma. Se, num primeiro momento, o paradigma científico deu mais importância à segunda morte, a biológica, o problema é que estas não são desligáveis. Entenda-se a morte como acontecimento simbólico no sentido em que é algo de conceptual, sujeito a consenso social sobre a sua definição.
Giorgio Agamben - em "O Poder Soberano e a Vida Nua - Homo Sacer" - recorda precisamente que, à medida que foram surgindo progressos nas técnicas de prolongamento da vida, o conceito de morte se torna cada vez mais difuso, e é só nestas condições em que surge, não só a problemática da eutanásia, mas sim a problemática da definição do que é a morte. Agamben recorda o estudo de 1959 de Mollaret e Goulon, dois neurofisiologistas franceses, que introduziram a noção de coma dépassé, isto é, o coma em que à abolição total das funções da vida de relação corresponde a uma abolição igualmente total das funções da vida vegetativa, sendo que o indivíduo em estado de coma ultrapassado deixava automaticamente de viver mal os tratamentos de reanimação eram interrompidos. Este além-coma tornou caducos os tradicionais critérios de confirmação da morte, o cessar das batidas de coração e a paragem da respiração, abrindo uma terra de ninguém entre o coma e a morte, obrigando a determinar novas definições do que se considera a morte. Foi então que, em 1968, o relatório de uma comissão especial da universidade de Harvard fixou os novos critérios de confirmação da morte, que haveria de se impor a partir daquele momento : a morte cerebral. No entanto, esta nova definição não resolve o problema, na medida em que introduz novos paradoxos. Agamben demonstra-o da seguinte forma:
 "Não é possível evitar a impressão de que toda a discussão está envolvida em contradições lógicas inextricáveis e que o conceito de "morte", longe de se ter tornado mais exacto, oscila de um pólo ao outro na maior indeterminação, descrevendo um círculo vicioso verdadeiramente exemplar. De facto, por um lado, a morte cerebral substitui como único critério rigoroso a morte sistémica ou somática, considerada agora como insuficiente; por outro, porém, é esta última que (de modo mais ou menos consciente) continua a ser chamada a fornecer o critério decisivo. É por isso surpreendente que os partidários da morte cerebral possam escrever candidamente: «[A morte cerebral] conduz inevitavelmente à morte, em pouco tempo». (...) David Lamb, um defensor sem reservas da morte cerebral que, no entanto, notou estas contradições, escreve, por sua vez, depois de citar uma série de estudos (...): «Em muitos destes estudos existem variações nos exames clínicos, mas todos provam a inevitabilidade da morte somática a seguir à morte cerebral» Com uma flagrante inconsequência lógica, a paragem cardíaca - que tinha acabado de ser rejeitada como critério válido de morte - surge novamente a provar a exactidão do critério que a deveria ter substituído. (Agamben)
"Não é possível evitar a impressão de que toda a discussão está envolvida em contradições lógicas inextricáveis e que o conceito de "morte", longe de se ter tornado mais exacto, oscila de um pólo ao outro na maior indeterminação, descrevendo um círculo vicioso verdadeiramente exemplar. De facto, por um lado, a morte cerebral substitui como único critério rigoroso a morte sistémica ou somática, considerada agora como insuficiente; por outro, porém, é esta última que (de modo mais ou menos consciente) continua a ser chamada a fornecer o critério decisivo. É por isso surpreendente que os partidários da morte cerebral possam escrever candidamente: «[A morte cerebral] conduz inevitavelmente à morte, em pouco tempo». (...) David Lamb, um defensor sem reservas da morte cerebral que, no entanto, notou estas contradições, escreve, por sua vez, depois de citar uma série de estudos (...): «Em muitos destes estudos existem variações nos exames clínicos, mas todos provam a inevitabilidade da morte somática a seguir à morte cerebral» Com uma flagrante inconsequência lógica, a paragem cardíaca - que tinha acabado de ser rejeitada como critério válido de morte - surge novamente a provar a exactidão do critério que a deveria ter substituído. (Agamben)
Agamben conclui que vida e morte não são conceitos propriamente científicos, mas conceitos políticos, inaugurando a era política actual como biopolítica.
Quanto à ideia da morte cerebral, surge talvez como forma de trazer de volta a ideia de que a perda de actividade cerebral, provando a inexistência de consciência, é o critério mais seguro de uma definição de morte. Voltamos assim à ideia de que a morte é, no sentido romano, sinónimo de "deixar de estar entre os homens" e que estar vivo significa ser dotado de uma consciência e da possibilidade de comunicar. Também os loucos, na medida em que estão mais ou menos impossibilitados de comunicar, e de participar de uma vida pública , "deixam de estar entre os homens", assemelhando-se aos mortos, comatosos e animais. A definição de saúde mental está também altamente imbricada portanto no direito de soberania sobre a própria vida. Agamben lembra como o primeiro grande programa de eutanásia surgiu na Alemanha Nazi visando o que então foi denominado de "morte por benevolência" de doentes mentais incuráveis.
A morte é portanto um conceito altamente flutuante, dependente de consenso político e social, e não um conceito objectivo. A medicina moderna acabou por deixar isto a nu, decorrendo a discussão da eutanásia deste hiato criado entre uma morte política, sujeita a critérios sociais e políticos, e uma morte biológica, dependente da primeira. É neste hiato que, como já se disse, se encontram os loucos, os comatosos e os animais. Agamben, Arendt e Foucault já se haviam socorrido da distinção de Aristóteles entre zôê, que exprime o simples facto de viver, comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bios, que indicava a forma ou maneira de viver própria de cada indivíduo. Sobre isto, Agamben cita a seguinte passagem de Foucault:
 "Durante milénios o homem foi sempre o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivo. (...) Resulta daí uma espécie de animalização do homem realizada através das mais sofisticadas técnicas políticas. Dá-se então o aparecimento, na história, quer da multiplicação das possibilidades das ciências humanas e sociais, quer da possibilidade de proteger a vida e de autorizar que ela seja submetida ao holocausto" (Foucault)
"Durante milénios o homem foi sempre o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivo. (...) Resulta daí uma espécie de animalização do homem realizada através das mais sofisticadas técnicas políticas. Dá-se então o aparecimento, na história, quer da multiplicação das possibilidades das ciências humanas e sociais, quer da possibilidade de proteger a vida e de autorizar que ela seja submetida ao holocausto" (Foucault)
Se existe um conflito político fracturante, uma luta de classes, ela faz-se nesta linha entre a vida e a morte, entes a classe dominante e os excluídos que são os loucos, comatosos, animais e fora-da-lei. Aliás, Baudrillard já referia o que foi por exemplo, a conquista social, no antigo Egipto, da imortalidade para todos:
No Egipto, lentamente, certos membros do grupo (os faraós, depois os sacerdotes, os chefes, os ricos, os iniciados da classe dominante), em função do seu poder, vão-se destacando como imortais; os outros têm direito apenas à morte e ao seu duplo. Por volta do ano 2000 a.c. cada qual acede à imortalidade: é uma espécie de conquista social, talvez arrancada À força; sem fazer história social/ficção, é fácil imaginar, no Egipto das Altas Dinastias, revoltas e movimentos sociais tendo como revindicação o direito à imortalidade para todos.
Chegamos então a uma noção de morte que se situa exactamente no meio de uma luta de poderes entre os homens, uma mortífera luta de classes marxista, e no meio uma linha difusa de demarcação social entre a classe privilegiada dos cidadãos vivos, participantes da vida pública, e os mortos (loucos, pobres, doentes e animais, na medida em que não participam da vida entre os homens), sempre em constante disputa. Aqui vale a pena fazer aqui um ponto de contacto com Freud, introduzindo o seu conceito de pulsão de morte de - Thanatos. Cito a carta fabulosa de Freud a Einstein, sobre o porquê de os homens andarem sempre em guerra desde os primórdios da humanidade:
 No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos: o vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta. (...) Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um: o caminho que levava ao reconhecimento do facto de que à força superior de um único indivíduo, podia-se contrapor a união de diversos indivíduos fracos. (...) A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava, agora, a lei, em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos, assim, que a lei é a força de uma comunidade. (Freud)
No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos: o vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta. (...) Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um: o caminho que levava ao reconhecimento do facto de que à força superior de um único indivíduo, podia-se contrapor a união de diversos indivíduos fracos. (...) A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava, agora, a lei, em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos, assim, que a lei é a força de uma comunidade. (Freud)
Destas observações de Freud se compreende como existe um instinto de agressividade, pulsão de morte que funda e mantém a sociedade. Ou como disse Walter Benjamin, há a violência que funda o direito e a violência que o conserva.
Voltando ao início desta reflexão, retornamos à ligação entre direito e racionalidade, lei e consciência: o facto de termos uma consciência pensante é necessariamente fundada na lei da comunidade, que é na sua origem um acto de violência. Falando na linguagem de Foucault, somos introduzidos na vida quando nos dão um nome próprio, nos habituamos a ele, e aprendemos a responder quando as autoridades (pais, polícia, juiz) chamam por nós. É a isso que correntemente associamos o estarmos vivos: temos este corpo que come e respira e dizemos "este sou eu", o Joaquim, o António, etc. A morte é um estado que não se experimenta habitualmente senão por antecipação: é este medo de perder estes atributos e de "deixar de estar entre os homens". Já a morte dos outros que nos são próximos é vivida na forma de um abandono social, o deixar de poder conviver com aqueles com quem partilhamos nossas identificações e experiências.
Em contraponto temos Eros, a pulsão de vida do ser humano que impulsiona as identificações e ligações entre os homens. As duas pulsões, como explica Freud, não existem completamente separadas e o conflito entre Eros e Thanatos está presente nesta luta de classes entre a vida e a morte de uma forma paradoxal. Estar vivo significa viver dentro da sociedade sujeitos à violência da soberania da lei, que nos obriga a ter ter um nome, consciência pensante e regras de convivência. Estar morto é abandonar a violência da lei, mas viver uma outra violência que é o isolamento do resto da comunidade dos homens. Assim se entende que o luto é um sentimento semelhante ao de sermos abandonados. Como se diz em senso comum, nunca ninguém veio da morte para contar como é. Depois do que já foi aqui visto, facilmente se compreende que a morte é precisamente a impossibilidade de contar como é. Ou será isto mesmo assim? Vimos como os loucos são, segundo esta concepção, os mortos por excelência, aqueles que "não vivem entre os homens". E há aqueles que, como Artaud, viveram na ténue fronteira entre a vida pública em sociedade e o exílio da loucura no asilo, entre a vida e a morte. Artaud em Alienação e Magia Negra, fala-nos da experiência de ter estado internado e submetido a electro-choques:
 Se não tivesse havido médicos
Se não tivesse havido médicos
nunca teria havido doentes
nenhum esqueleto de morto,
nenhum doente para escortaçar e esfolar,
porque foi com os médicos e não com os doentes que a sociedade começou.
(...)
O Bardo é a morte, e a morte só é um estado de magia negra que ainda não há muito tempo não existia
Criar artificalmente a morte, como a actual medicina faz, é favorecer um refluxo do nada que nunca deu proveito a ninguém mas desde há muito tempo sacia certos oportunistas predestinados do homem.
Na realidade , desde há um certo tempo.
Qual?
Aquele onde tivemos de optar entre a renúncia de sermos homem ou um alienado evidente.
Mas quem garante aos alienados evidentes deste mundo que serão tratados por vivos autênticos?
Aqui podemos seguir o trilho de Artaud, e verificar que a visão dos monges budistas tibetanos sobre a morte encaixa perfeitamente nesta visão que fomos desvendando até aqui. Podemos começar logo por lembrar que, para os tibetanos a reencarnação é uma realidade, e viver significa estar imbuído da ilusão de um eu individual separado de tudo o resto, sendo que a morte significa perder a ilusão desta separatividade. Ken Wilber no seu artigo Morte, Renascimento e Meditação, lembra-nos que na cultura tibetana,
 "ao contrário da nossa cultura ocidental, vivem constantemente com a morte; as pessoas morrem nas suas casas, rodeadas pela família e pelos amigos. Daí que os verdadeiros estádios do processo de morrer já tenham sido observados milhares, até mesmo milhões, de vezes. E quando juntamos a tudo isto o facto de os tibetanos possuírem um entendimento bastante sofisticado da dimensão espiritual e do seu desenvolvimento, o resultado é um riquíssimo acervo de conhecimentos e sabedoria sobre o verdadeiro processo de morrer. (...) Seria claramente uma patetice da parte de um investigador sério ignorar a imensa quantidade de dados que a tradição tibetana acumulou. (Ken Wilber)
"ao contrário da nossa cultura ocidental, vivem constantemente com a morte; as pessoas morrem nas suas casas, rodeadas pela família e pelos amigos. Daí que os verdadeiros estádios do processo de morrer já tenham sido observados milhares, até mesmo milhões, de vezes. E quando juntamos a tudo isto o facto de os tibetanos possuírem um entendimento bastante sofisticado da dimensão espiritual e do seu desenvolvimento, o resultado é um riquíssimo acervo de conhecimentos e sabedoria sobre o verdadeiro processo de morrer. (...) Seria claramente uma patetice da parte de um investigador sério ignorar a imensa quantidade de dados que a tradição tibetana acumulou. (Ken Wilber)
Uma das coisas que vale a pena salientar de imediato: a nossa ciência e técnica médica não foi assim tão original ao, através das técnicas de prolongamento da vida biológica, ter posto a nu a grande indeterminação daquilo que se pode considerar uma morte somática ou biológica, tanto que existem sistemas de meditação, particularmente os sikh (os santos Radhasoami) e o tântrico (hindu e budista), que contêm meditações muito precisas que acabam por imitar ou induzir as diversas fases do processo de morrer com grande precisão - incluindo a cessação da respiração, o corpo a ficar frio, o coração a abrandar e às vezes a parar, e por aí fora. (...) A pulsação pode mesmo ser parada durante um longo período, tal como a respiração. (Ken Wilber)
Assim, para os budistas, a morte não é um acontecimento do tipo binário, em que se está vivo e depois se está morto. A morte é um processo de vários estádios de dissolução do corpo e dos vários estádios de consciência. Na reencarnação, ao contrário do que se julga, os tibetanos consideram que nenhuma das nossas memórias, crenças e experiências sobrevivem ao processo de morte. O que sobrevive é um outro estádio de consciência mais básico e fundamental denominado rigpa. As memórias de vidas passadas só ocorrem com os Budas, sendo estes uma excepção à regra. (Mesmo esta reencarnação é, actualmente, fonte de uma disputa política interessante, pretendendo a China legalizar a reencarnação tibetana, para assim decidir quem será a próxima reencarnação do Buda, sendo este mais um exemplo da já anteriormente referida disputa política da mortalidade).
O caminho da libertação budista passa por adquirir uma compreensão dessa consciência mais fundamental e alcançar a iluminação. Isto significa ser capaz de perceber o nosso eu como ilusão da nossa separatividade, e escapar ao domínio do samsara (ciclo interminável da vida e da morte, da alegria e da dor, comparáveis talvez ao conflito freudiano entre Eros e Thanatos).
Assim, uma adequada compreensão e preparação para a morte significa o trabalho de toda uma vida. Como? Lembremo-nos da noção de Bardo, fenda ou transição entre a vida e a morte. Segundo o Livro Tibetano do Mortos, existem seis bardos, e a cada um deles corresponde um conjunto de ensinamentos: três bardos da vida e três bardos da morte. Os três Bardos da Vida são:
- a consciência ordinária a partir do momento em que nascemos até morrermos - esta vida
- o estado do sono e sonho
- o estado meditativo
Sobre este último vale a pena acrescentar o seguinte: a meditação é sempre, de certa maneira, uma morte do Ego, que começa por um frente a frente com a nossa torrente habitual do pensamento, aquilo que os budistas chamam vagabundagem da mente. O fim último da meditação passa por prescindir da ilusão da separação entre o Eu e a realidade. Não se veja isto como mero folclore new-age: estudos feitos com vários indíviduos de várias religiões em transe místico, mostram uma ausência de actividade numa zona do córtex parietal esquerdo, normalmente responsável por, entre outras coisas, pelo nosso mecanismo de propriocepção, ou seja, da percepção do nosso corpo e da sua independência em relação à realidade envolvente. Estes sujeitos em transe místico relatam uma sensação de fusão entre elas e o mundo.
Há então que fazer uma "vivência da morte", transcender o conflito entre Eros e Thanatos , operando então uma "morte da morte". Segundo os ensinamentos Zen, se se morre antes de morrer, então quando se morre não se morre.
"Não se morre porque é necessário morrer: morre-se porque é um hábito a que um dia se constrangiu a consciência, e ainda não há muito"
Antonin Artaud
Há algum tempo foi discutido na Assembleia da República um diploma sobre o denominado testamento vital, que possibilitaria a qualquer cidadão a realização de uma declaração antecipada de vontade acerca do tratamento médico a receber quando, em virtude de uma doença, já não seja possível exprimir livre e conscientemente a sua vontade.
Dentro do historial do debate da eutanásia, há a ideia de que o sujeito enfermo , impossibilitado de comunicar ou, em virtude da sua doença, o sujeito que não apresenta um estado normal de consciência e de lucidez, estaria impossibilitado de tomar em suas mãos a soberania sobre a sua própria vida. É então nestas condições que o testamento vital se aplica: num momento de razoabilidade e lucidez normais, o sujeito define as condições do seu tratamento médico posterior.
O que está logo aqui implícito é a conexão entre consciência e direito que a aqui se estabelece: só é soberano sobre a sua própria vida quem é dotado de racionalidade. Da mesma forma, noutras situações do plano jurídico, a consciência é condição necessária para a decisão da imputabilidade de qualquer sujeito enquanto suposto autor de um crime. Só pode ser punido quem é dotado de uma racionalidade consciente. No entanto, o que racionalidade significa é um alinhamento sobre um consenso social sobre o que é normal pensar e raciocinar. Wittgenstein exemplifica isto bem da seguinte forma:
 Num tribunal perguntam-nos o motivo da nossa acção e supõe-se que o conhecemos. A menos que estejamos a mentir, devemos ser capazes de explicar o motivo da nossa acção. Não é suposto conhecermos as leis que governam o nosso corpo e o nosso espírito. (...) Existem casos em que damos a razão de ter feito uma coisa. "Porque é que escreveu 6249 debaixo do traço" Damos a multiplicação que fizemos. "Cheguei aqui através desta multiplicação" Isto é comparável ao dar de um mecanismo. Poderíamos chamar-lhe a alegação de um motivo para escrever os números. Significa que passei por um determinado processo de raciocínio. Aqui "Como é que fez" significa "Como é que chegou aí?" Damos uma razão, o caminho que seguimos. (Wittgenstein)
Num tribunal perguntam-nos o motivo da nossa acção e supõe-se que o conhecemos. A menos que estejamos a mentir, devemos ser capazes de explicar o motivo da nossa acção. Não é suposto conhecermos as leis que governam o nosso corpo e o nosso espírito. (...) Existem casos em que damos a razão de ter feito uma coisa. "Porque é que escreveu 6249 debaixo do traço" Damos a multiplicação que fizemos. "Cheguei aqui através desta multiplicação" Isto é comparável ao dar de um mecanismo. Poderíamos chamar-lhe a alegação de um motivo para escrever os números. Significa que passei por um determinado processo de raciocínio. Aqui "Como é que fez" significa "Como é que chegou aí?" Damos uma razão, o caminho que seguimos. (Wittgenstein)Assim, na impossibilidade de o sujeito comunicar racionalmente, ou seja, de acordo com os padrões socialmente aceites daquilo que é o normal funcionamento mental, o sujeito vê-se impossibilitado de decidir sobre a sua própria vida, estando dependente de outros a soberania dessa decisão vital. Daqui então se compreende melhor o que Roland Barthes quis dizer quando disse que a "língua é fascista". Na impossibilidade da comunicação, somos separados da vida política entre os homens. Perde-se aquilo que distingue o humano dos animais, o facto de estes viverem uma vida política. Perde-se assim a soberania sobre a vida própria, assemelhando-se então o doente em coma ao louco e ao animal. Esta afastamento da vida entre os homens, corresponde, se não uma morte, a uma perda de vida. Hannah Arendt refere-se aos romanos como o povo mais político que conhecemos e lembra que o idioma dos romanos (...) empregava como sinónimas as expressões de "viver" e "estar entre os homens", ou morrer e "deixar de estar entre os homens".
Assim, o estado de coma, tornado possível apenas pela medicina moderna, é num sentido romano do termo, uma morte política e uma morte cartesiana. Acaba o sujeito e fica apenas o objecto, os restos corporais ligados às máquinas. Tende a desaparecer o que hoje é cada vez mais um acontecimento estranho: a morte natural. Com o progresso das técnicas médicas, a morte deixa de poder ser trocada simbolicamente para ser encarada apenas na categoria de acidente e da anomalia. Deixa de existir a morte por velhice, na medida em que a morte sem causa, objectivamente, não existe. Assim, o doente só tem direito a existir enquanto objecto médico. Ninguém demonstrou melhor isto do que Jean Baudrillard em "Troca Simbólica e a Morte", naquela que considero a passagem mais interessante desta obra:
 Já não temos a experiência da morte dos outros. A experiência espectacular e televisiva nada tem a ver com ela. A maioria das pessoas nunca teve a oportunidade de ver morrer alguém. É algo de impensável em qualquer outro tipo de sociedade. Somos substituídos pelo hospital e pela medicina - a extrema unção técnica substituiu todos os outros sacramentos. O homem desaparece dos que lhe são próximos antes de morrer. Aliás, é disto que ele morre. (...) Nunca se morre em casa, morre-se no hospital. Por inúmeras e boas razões "materiais" (de saúde, urbanas, etc.), mas sobretudo porque o corpo biológico, o moribundo ou o doente, já só tem lugar num meio técnico. Sob o pretexto de cuidar dele, é deportado para um espaço-tempo funcional que se encarrega de neutralizar a doença e a morte na sua diferença simbólica. Justamente onde a finalidade é eliminar a morte, o hospital (e a medicina em geral) toma a seu cargo o doente como virtualmente morto. Cientificidade e eficiência terapêutica supõem a objectivação radical do corpo, a discriminação social do doente, portanto, um processo de mortificação. (Baudrillard)
Já não temos a experiência da morte dos outros. A experiência espectacular e televisiva nada tem a ver com ela. A maioria das pessoas nunca teve a oportunidade de ver morrer alguém. É algo de impensável em qualquer outro tipo de sociedade. Somos substituídos pelo hospital e pela medicina - a extrema unção técnica substituiu todos os outros sacramentos. O homem desaparece dos que lhe são próximos antes de morrer. Aliás, é disto que ele morre. (...) Nunca se morre em casa, morre-se no hospital. Por inúmeras e boas razões "materiais" (de saúde, urbanas, etc.), mas sobretudo porque o corpo biológico, o moribundo ou o doente, já só tem lugar num meio técnico. Sob o pretexto de cuidar dele, é deportado para um espaço-tempo funcional que se encarrega de neutralizar a doença e a morte na sua diferença simbólica. Justamente onde a finalidade é eliminar a morte, o hospital (e a medicina em geral) toma a seu cargo o doente como virtualmente morto. Cientificidade e eficiência terapêutica supõem a objectivação radical do corpo, a discriminação social do doente, portanto, um processo de mortificação. (Baudrillard)A morte é, mais do que um acontecimento meramente biológico, um acontecimento simbólico. Se dantes a perda da comunicabilidade e a morte biológica quase que coincidiam, o que temos, hoje em dia, é um movimento pelo qual, através da extensão da vida biológica, se cria um hiato entre a morte simbólica e a morte biológica, ao que corresponde o estado de coma. Se, num primeiro momento, o paradigma científico deu mais importância à segunda morte, a biológica, o problema é que estas não são desligáveis. Entenda-se a morte como acontecimento simbólico no sentido em que é algo de conceptual, sujeito a consenso social sobre a sua definição.
Giorgio Agamben - em "O Poder Soberano e a Vida Nua - Homo Sacer" - recorda precisamente que, à medida que foram surgindo progressos nas técnicas de prolongamento da vida, o conceito de morte se torna cada vez mais difuso, e é só nestas condições em que surge, não só a problemática da eutanásia, mas sim a problemática da definição do que é a morte. Agamben recorda o estudo de 1959 de Mollaret e Goulon, dois neurofisiologistas franceses, que introduziram a noção de coma dépassé, isto é, o coma em que à abolição total das funções da vida de relação corresponde a uma abolição igualmente total das funções da vida vegetativa, sendo que o indivíduo em estado de coma ultrapassado deixava automaticamente de viver mal os tratamentos de reanimação eram interrompidos. Este além-coma tornou caducos os tradicionais critérios de confirmação da morte, o cessar das batidas de coração e a paragem da respiração, abrindo uma terra de ninguém entre o coma e a morte, obrigando a determinar novas definições do que se considera a morte. Foi então que, em 1968, o relatório de uma comissão especial da universidade de Harvard fixou os novos critérios de confirmação da morte, que haveria de se impor a partir daquele momento : a morte cerebral. No entanto, esta nova definição não resolve o problema, na medida em que introduz novos paradoxos. Agamben demonstra-o da seguinte forma:
 "Não é possível evitar a impressão de que toda a discussão está envolvida em contradições lógicas inextricáveis e que o conceito de "morte", longe de se ter tornado mais exacto, oscila de um pólo ao outro na maior indeterminação, descrevendo um círculo vicioso verdadeiramente exemplar. De facto, por um lado, a morte cerebral substitui como único critério rigoroso a morte sistémica ou somática, considerada agora como insuficiente; por outro, porém, é esta última que (de modo mais ou menos consciente) continua a ser chamada a fornecer o critério decisivo. É por isso surpreendente que os partidários da morte cerebral possam escrever candidamente: «[A morte cerebral] conduz inevitavelmente à morte, em pouco tempo». (...) David Lamb, um defensor sem reservas da morte cerebral que, no entanto, notou estas contradições, escreve, por sua vez, depois de citar uma série de estudos (...): «Em muitos destes estudos existem variações nos exames clínicos, mas todos provam a inevitabilidade da morte somática a seguir à morte cerebral» Com uma flagrante inconsequência lógica, a paragem cardíaca - que tinha acabado de ser rejeitada como critério válido de morte - surge novamente a provar a exactidão do critério que a deveria ter substituído. (Agamben)
"Não é possível evitar a impressão de que toda a discussão está envolvida em contradições lógicas inextricáveis e que o conceito de "morte", longe de se ter tornado mais exacto, oscila de um pólo ao outro na maior indeterminação, descrevendo um círculo vicioso verdadeiramente exemplar. De facto, por um lado, a morte cerebral substitui como único critério rigoroso a morte sistémica ou somática, considerada agora como insuficiente; por outro, porém, é esta última que (de modo mais ou menos consciente) continua a ser chamada a fornecer o critério decisivo. É por isso surpreendente que os partidários da morte cerebral possam escrever candidamente: «[A morte cerebral] conduz inevitavelmente à morte, em pouco tempo». (...) David Lamb, um defensor sem reservas da morte cerebral que, no entanto, notou estas contradições, escreve, por sua vez, depois de citar uma série de estudos (...): «Em muitos destes estudos existem variações nos exames clínicos, mas todos provam a inevitabilidade da morte somática a seguir à morte cerebral» Com uma flagrante inconsequência lógica, a paragem cardíaca - que tinha acabado de ser rejeitada como critério válido de morte - surge novamente a provar a exactidão do critério que a deveria ter substituído. (Agamben)Agamben conclui que vida e morte não são conceitos propriamente científicos, mas conceitos políticos, inaugurando a era política actual como biopolítica.
Quanto à ideia da morte cerebral, surge talvez como forma de trazer de volta a ideia de que a perda de actividade cerebral, provando a inexistência de consciência, é o critério mais seguro de uma definição de morte. Voltamos assim à ideia de que a morte é, no sentido romano, sinónimo de "deixar de estar entre os homens" e que estar vivo significa ser dotado de uma consciência e da possibilidade de comunicar. Também os loucos, na medida em que estão mais ou menos impossibilitados de comunicar, e de participar de uma vida pública , "deixam de estar entre os homens", assemelhando-se aos mortos, comatosos e animais. A definição de saúde mental está também altamente imbricada portanto no direito de soberania sobre a própria vida. Agamben lembra como o primeiro grande programa de eutanásia surgiu na Alemanha Nazi visando o que então foi denominado de "morte por benevolência" de doentes mentais incuráveis.
A morte é portanto um conceito altamente flutuante, dependente de consenso político e social, e não um conceito objectivo. A medicina moderna acabou por deixar isto a nu, decorrendo a discussão da eutanásia deste hiato criado entre uma morte política, sujeita a critérios sociais e políticos, e uma morte biológica, dependente da primeira. É neste hiato que, como já se disse, se encontram os loucos, os comatosos e os animais. Agamben, Arendt e Foucault já se haviam socorrido da distinção de Aristóteles entre zôê, que exprime o simples facto de viver, comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bios, que indicava a forma ou maneira de viver própria de cada indivíduo. Sobre isto, Agamben cita a seguinte passagem de Foucault:
 "Durante milénios o homem foi sempre o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivo. (...) Resulta daí uma espécie de animalização do homem realizada através das mais sofisticadas técnicas políticas. Dá-se então o aparecimento, na história, quer da multiplicação das possibilidades das ciências humanas e sociais, quer da possibilidade de proteger a vida e de autorizar que ela seja submetida ao holocausto" (Foucault)
"Durante milénios o homem foi sempre o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivo. (...) Resulta daí uma espécie de animalização do homem realizada através das mais sofisticadas técnicas políticas. Dá-se então o aparecimento, na história, quer da multiplicação das possibilidades das ciências humanas e sociais, quer da possibilidade de proteger a vida e de autorizar que ela seja submetida ao holocausto" (Foucault)Se existe um conflito político fracturante, uma luta de classes, ela faz-se nesta linha entre a vida e a morte, entes a classe dominante e os excluídos que são os loucos, comatosos, animais e fora-da-lei. Aliás, Baudrillard já referia o que foi por exemplo, a conquista social, no antigo Egipto, da imortalidade para todos:
No Egipto, lentamente, certos membros do grupo (os faraós, depois os sacerdotes, os chefes, os ricos, os iniciados da classe dominante), em função do seu poder, vão-se destacando como imortais; os outros têm direito apenas à morte e ao seu duplo. Por volta do ano 2000 a.c. cada qual acede à imortalidade: é uma espécie de conquista social, talvez arrancada À força; sem fazer história social/ficção, é fácil imaginar, no Egipto das Altas Dinastias, revoltas e movimentos sociais tendo como revindicação o direito à imortalidade para todos.
Chegamos então a uma noção de morte que se situa exactamente no meio de uma luta de poderes entre os homens, uma mortífera luta de classes marxista, e no meio uma linha difusa de demarcação social entre a classe privilegiada dos cidadãos vivos, participantes da vida pública, e os mortos (loucos, pobres, doentes e animais, na medida em que não participam da vida entre os homens), sempre em constante disputa. Aqui vale a pena fazer aqui um ponto de contacto com Freud, introduzindo o seu conceito de pulsão de morte de - Thanatos. Cito a carta fabulosa de Freud a Einstein, sobre o porquê de os homens andarem sempre em guerra desde os primórdios da humanidade:
 No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos: o vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta. (...) Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um: o caminho que levava ao reconhecimento do facto de que à força superior de um único indivíduo, podia-se contrapor a união de diversos indivíduos fracos. (...) A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava, agora, a lei, em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos, assim, que a lei é a força de uma comunidade. (Freud)
No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos: o vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta. (...) Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um: o caminho que levava ao reconhecimento do facto de que à força superior de um único indivíduo, podia-se contrapor a união de diversos indivíduos fracos. (...) A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava, agora, a lei, em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos, assim, que a lei é a força de uma comunidade. (Freud)Destas observações de Freud se compreende como existe um instinto de agressividade, pulsão de morte que funda e mantém a sociedade. Ou como disse Walter Benjamin, há a violência que funda o direito e a violência que o conserva.
Voltando ao início desta reflexão, retornamos à ligação entre direito e racionalidade, lei e consciência: o facto de termos uma consciência pensante é necessariamente fundada na lei da comunidade, que é na sua origem um acto de violência. Falando na linguagem de Foucault, somos introduzidos na vida quando nos dão um nome próprio, nos habituamos a ele, e aprendemos a responder quando as autoridades (pais, polícia, juiz) chamam por nós. É a isso que correntemente associamos o estarmos vivos: temos este corpo que come e respira e dizemos "este sou eu", o Joaquim, o António, etc. A morte é um estado que não se experimenta habitualmente senão por antecipação: é este medo de perder estes atributos e de "deixar de estar entre os homens". Já a morte dos outros que nos são próximos é vivida na forma de um abandono social, o deixar de poder conviver com aqueles com quem partilhamos nossas identificações e experiências.
Em contraponto temos Eros, a pulsão de vida do ser humano que impulsiona as identificações e ligações entre os homens. As duas pulsões, como explica Freud, não existem completamente separadas e o conflito entre Eros e Thanatos está presente nesta luta de classes entre a vida e a morte de uma forma paradoxal. Estar vivo significa viver dentro da sociedade sujeitos à violência da soberania da lei, que nos obriga a ter ter um nome, consciência pensante e regras de convivência. Estar morto é abandonar a violência da lei, mas viver uma outra violência que é o isolamento do resto da comunidade dos homens. Assim se entende que o luto é um sentimento semelhante ao de sermos abandonados. Como se diz em senso comum, nunca ninguém veio da morte para contar como é. Depois do que já foi aqui visto, facilmente se compreende que a morte é precisamente a impossibilidade de contar como é. Ou será isto mesmo assim? Vimos como os loucos são, segundo esta concepção, os mortos por excelência, aqueles que "não vivem entre os homens". E há aqueles que, como Artaud, viveram na ténue fronteira entre a vida pública em sociedade e o exílio da loucura no asilo, entre a vida e a morte. Artaud em Alienação e Magia Negra, fala-nos da experiência de ter estado internado e submetido a electro-choques:
 Se não tivesse havido médicos
Se não tivesse havido médicosnunca teria havido doentes
nenhum esqueleto de morto,
nenhum doente para escortaçar e esfolar,
porque foi com os médicos e não com os doentes que a sociedade começou.
(...)
O Bardo é a morte, e a morte só é um estado de magia negra que ainda não há muito tempo não existia
Criar artificalmente a morte, como a actual medicina faz, é favorecer um refluxo do nada que nunca deu proveito a ninguém mas desde há muito tempo sacia certos oportunistas predestinados do homem.
Na realidade , desde há um certo tempo.
Qual?
Aquele onde tivemos de optar entre a renúncia de sermos homem ou um alienado evidente.
Mas quem garante aos alienados evidentes deste mundo que serão tratados por vivos autênticos?
Artaud
Quando Artaud nos fala em Bardo, trata-se de uma palavra tibetana que designa uma fenda ou transição entre a vida e a morte. De facto, como já falámos, só existe uma morte que é uma morte do eu e do ego, e só pode ser concebida uma separação clara entre vida e morte enquanto expressões de um eu e um ego individuais. E mesmo esta separação não é tão clara assim quando pensamos nas interligações entre Eros e Thanatos, e no conflito paradoxal entre a vida violenta da sociedade de leis, e da violência da morte que é viver isolado do mundo dos homens.Aqui podemos seguir o trilho de Artaud, e verificar que a visão dos monges budistas tibetanos sobre a morte encaixa perfeitamente nesta visão que fomos desvendando até aqui. Podemos começar logo por lembrar que, para os tibetanos a reencarnação é uma realidade, e viver significa estar imbuído da ilusão de um eu individual separado de tudo o resto, sendo que a morte significa perder a ilusão desta separatividade. Ken Wilber no seu artigo Morte, Renascimento e Meditação, lembra-nos que na cultura tibetana,
 "ao contrário da nossa cultura ocidental, vivem constantemente com a morte; as pessoas morrem nas suas casas, rodeadas pela família e pelos amigos. Daí que os verdadeiros estádios do processo de morrer já tenham sido observados milhares, até mesmo milhões, de vezes. E quando juntamos a tudo isto o facto de os tibetanos possuírem um entendimento bastante sofisticado da dimensão espiritual e do seu desenvolvimento, o resultado é um riquíssimo acervo de conhecimentos e sabedoria sobre o verdadeiro processo de morrer. (...) Seria claramente uma patetice da parte de um investigador sério ignorar a imensa quantidade de dados que a tradição tibetana acumulou. (Ken Wilber)
"ao contrário da nossa cultura ocidental, vivem constantemente com a morte; as pessoas morrem nas suas casas, rodeadas pela família e pelos amigos. Daí que os verdadeiros estádios do processo de morrer já tenham sido observados milhares, até mesmo milhões, de vezes. E quando juntamos a tudo isto o facto de os tibetanos possuírem um entendimento bastante sofisticado da dimensão espiritual e do seu desenvolvimento, o resultado é um riquíssimo acervo de conhecimentos e sabedoria sobre o verdadeiro processo de morrer. (...) Seria claramente uma patetice da parte de um investigador sério ignorar a imensa quantidade de dados que a tradição tibetana acumulou. (Ken Wilber)Uma das coisas que vale a pena salientar de imediato: a nossa ciência e técnica médica não foi assim tão original ao, através das técnicas de prolongamento da vida biológica, ter posto a nu a grande indeterminação daquilo que se pode considerar uma morte somática ou biológica, tanto que existem sistemas de meditação, particularmente os sikh (os santos Radhasoami) e o tântrico (hindu e budista), que contêm meditações muito precisas que acabam por imitar ou induzir as diversas fases do processo de morrer com grande precisão - incluindo a cessação da respiração, o corpo a ficar frio, o coração a abrandar e às vezes a parar, e por aí fora. (...) A pulsação pode mesmo ser parada durante um longo período, tal como a respiração. (Ken Wilber)
Assim, para os budistas, a morte não é um acontecimento do tipo binário, em que se está vivo e depois se está morto. A morte é um processo de vários estádios de dissolução do corpo e dos vários estádios de consciência. Na reencarnação, ao contrário do que se julga, os tibetanos consideram que nenhuma das nossas memórias, crenças e experiências sobrevivem ao processo de morte. O que sobrevive é um outro estádio de consciência mais básico e fundamental denominado rigpa. As memórias de vidas passadas só ocorrem com os Budas, sendo estes uma excepção à regra. (Mesmo esta reencarnação é, actualmente, fonte de uma disputa política interessante, pretendendo a China legalizar a reencarnação tibetana, para assim decidir quem será a próxima reencarnação do Buda, sendo este mais um exemplo da já anteriormente referida disputa política da mortalidade).
O caminho da libertação budista passa por adquirir uma compreensão dessa consciência mais fundamental e alcançar a iluminação. Isto significa ser capaz de perceber o nosso eu como ilusão da nossa separatividade, e escapar ao domínio do samsara (ciclo interminável da vida e da morte, da alegria e da dor, comparáveis talvez ao conflito freudiano entre Eros e Thanatos).
Assim, uma adequada compreensão e preparação para a morte significa o trabalho de toda uma vida. Como? Lembremo-nos da noção de Bardo, fenda ou transição entre a vida e a morte. Segundo o Livro Tibetano do Mortos, existem seis bardos, e a cada um deles corresponde um conjunto de ensinamentos: três bardos da vida e três bardos da morte. Os três Bardos da Vida são:
- a consciência ordinária a partir do momento em que nascemos até morrermos - esta vida
- o estado do sono e sonho
- o estado meditativo
Sobre este último vale a pena acrescentar o seguinte: a meditação é sempre, de certa maneira, uma morte do Ego, que começa por um frente a frente com a nossa torrente habitual do pensamento, aquilo que os budistas chamam vagabundagem da mente. O fim último da meditação passa por prescindir da ilusão da separação entre o Eu e a realidade. Não se veja isto como mero folclore new-age: estudos feitos com vários indíviduos de várias religiões em transe místico, mostram uma ausência de actividade numa zona do córtex parietal esquerdo, normalmente responsável por, entre outras coisas, pelo nosso mecanismo de propriocepção, ou seja, da percepção do nosso corpo e da sua independência em relação à realidade envolvente. Estes sujeitos em transe místico relatam uma sensação de fusão entre elas e o mundo.
Há então que fazer uma "vivência da morte", transcender o conflito entre Eros e Thanatos , operando então uma "morte da morte". Segundo os ensinamentos Zen, se se morre antes de morrer, então quando se morre não se morre.
"Não se morre porque é necessário morrer: morre-se porque é um hábito a que um dia se constrangiu a consciência, e ainda não há muito"
Raoul Vaneigem
quarta-feira, 17 de junho de 2009
O Inconsciente no Futebol, Freud, Deleuze e a Arte Zen do Tiro ao Arco

No Sábado, no âmbito do meu estágio como Psicólogo no Futebol Clube do Porto, estive a observar o treino de uma turma de iniciação da escola Dragon Force, o que me suscitou algumas reflexões.
O treino começou com a treinadora a mostrar algumas habilidades com a bola que os alunos devem imitar. Numa delas, as crianças têm que, a meio do percurso com a bola, dar um toque súbito com a parte de fora do pé na bola, de forma a ficarem automaticamente virados para o lado contrário. Um dos alunos, o João, diz prontamente que “é fácil”, mas ele, como todos os outros, mostram imensa dificuldade neste exercício não tanto no gesto técnico em si, mas na sua sequência, na qual devem ficar orientados para o lado contrário do campo. A atenção delas, poder-se-ia dizer que está demasiado centrada na bola, e é difícil encarar uma outra perspectiva, de uma orientação geral no espaço do jogo. Para além de o sentido de orientação espacial não encontrar plenamente desenvolvido, a bola é, no momento em que jogam, o planeta delas, o centro do universo. O virar-se ao contrário, enquanto tocam na bola é uma operação prodigiosa, como virar o universo ao contrário. As crianças têm neste caso, de manter três perspectivas relacionais entre o corpo, a bola e o campo de jogo.
Conscientemente, é impossível manter estes três elementos presentes ao mesmo tempo. A solução passa por tornar inconsciente um dos termos da relação. À medida que começa a haver um domínio cada vez maior da bola, esta é como que introjectada, torna-se um elemento integrante da psique, sob a forma inconsciente. Só através do “esquecimento” da bola, é possível relacionarmo-nos com o campo de jogo de uma forma mais completa. Até lá, as crianças estão completa e conscientemente centradas na bola, ocupadas em estabelecer uma mecânica íntima com ela. Observando o jogo-treino destas crianças que não têm mais do que 5 anos, é possível verificar que nenhuma delas em algum momento retira o olhar sobre a bola para olhar para outros elementos do jogo, como a baliza e os outros jogadores. Aliás, o único momento em que o olhar se descentra da bola, é quando a criança está na sua posse, e a tem plenamente controlada, pois é o momento em que é necessário colocar a bola em relação com outros elementos do jogo. É através da integração e domínio da bola, que começa a táctica e os espaços, e as relações que a bola estabelece com estes.
O treino começou com a treinadora a mostrar algumas habilidades com a bola que os alunos devem imitar. Numa delas, as crianças têm que, a meio do percurso com a bola, dar um toque súbito com a parte de fora do pé na bola, de forma a ficarem automaticamente virados para o lado contrário. Um dos alunos, o João, diz prontamente que “é fácil”, mas ele, como todos os outros, mostram imensa dificuldade neste exercício não tanto no gesto técnico em si, mas na sua sequência, na qual devem ficar orientados para o lado contrário do campo. A atenção delas, poder-se-ia dizer que está demasiado centrada na bola, e é difícil encarar uma outra perspectiva, de uma orientação geral no espaço do jogo. Para além de o sentido de orientação espacial não encontrar plenamente desenvolvido, a bola é, no momento em que jogam, o planeta delas, o centro do universo. O virar-se ao contrário, enquanto tocam na bola é uma operação prodigiosa, como virar o universo ao contrário. As crianças têm neste caso, de manter três perspectivas relacionais entre o corpo, a bola e o campo de jogo.
Conscientemente, é impossível manter estes três elementos presentes ao mesmo tempo. A solução passa por tornar inconsciente um dos termos da relação. À medida que começa a haver um domínio cada vez maior da bola, esta é como que introjectada, torna-se um elemento integrante da psique, sob a forma inconsciente. Só através do “esquecimento” da bola, é possível relacionarmo-nos com o campo de jogo de uma forma mais completa. Até lá, as crianças estão completa e conscientemente centradas na bola, ocupadas em estabelecer uma mecânica íntima com ela. Observando o jogo-treino destas crianças que não têm mais do que 5 anos, é possível verificar que nenhuma delas em algum momento retira o olhar sobre a bola para olhar para outros elementos do jogo, como a baliza e os outros jogadores. Aliás, o único momento em que o olhar se descentra da bola, é quando a criança está na sua posse, e a tem plenamente controlada, pois é o momento em que é necessário colocar a bola em relação com outros elementos do jogo. É através da integração e domínio da bola, que começa a táctica e os espaços, e as relações que a bola estabelece com estes.
É preciso inverter a fórmula freudiana segundo a qual onde era id, deve advir o ego. Para Freud, há demasiado inconsciente. É necessário pensar como Deleuze sugeriu, na medida em que é necessário “produzir inconsciente”. A única forma de “superar” a bola, é ter um domínio tal sobre ela que nos permita esquecermo-nos da mesma. Não é possível pensar a bola e jogá-la ao mesmo tempo. É preciso pensar o jogo e jogar a bola. A razão e a consciência operam sempre na separação entre sujeito e objecto. É preciso abolir esta separação e tornar a bola inseparável do sujeito. Como tal, é necessário uma habituação e uma aceitação plena da bola como extensão do próprio corpo. Inseguros do chão sobre o qual caminhamos, centramo-nos sobre o chão, não conseguindo olhar para o céu. Também se não se adquire esta “mecânica íntima” com a bola, não se consegue o desprendimento necessário para se poder olhar o jogo de forma completa.
Transcendendo as observações realizadas com estas crianças, poder-se-ia também fazer evoluir este raciocínio do futebol infantil para o futebol de alta competição da equipa-sénior do F.C. Porto. Senão, vejamos o que disse Jesualdo Ferreira a propósito do jogo da 1ª mão da eliminatória com o Manchester United: “Na altura, disse aos jogadores que tínhamos de ser tacticamente inconscientes. E fomos.” Para além da inconsciência da bola já referida, há um estádio mais avançado que é a própria inconsciência da táctica, que se adquire após muito treino e entrosamento de uma outra mecânica íntima do jogo. Quando os jogadores se habituam uns aos outros, em rotinas definidas e treinadas, o jogador deve ser capaz de se “esquecer” da táctica, de a tornar inconsciente. Superar a táctica é torná-la em acto sem mediação da razão consciente.
 Estas obervações assemelham-se muito às realizadas por Suzuki, no prefácio do livro de Eugen Herrigel “Zen e a arte do tiro com arco”, acerca das lições de tiro ao arco com um mestre zen: “acima de tudo, pretende-se harmonizar o consciente com o inconsciente. (...) No que diz respeito ao tiro com arco, isto significa que atirador e alvo deixam de ser duas entidades opostas, para se unirem numa única realidade. (...) Este estado de não-consciência só é alcançado quando o arqueiro se desprende e liberta inteiramente do seu Ego, quando forma uma unidade com a perfeição da perícia técnica."
Estas obervações assemelham-se muito às realizadas por Suzuki, no prefácio do livro de Eugen Herrigel “Zen e a arte do tiro com arco”, acerca das lições de tiro ao arco com um mestre zen: “acima de tudo, pretende-se harmonizar o consciente com o inconsciente. (...) No que diz respeito ao tiro com arco, isto significa que atirador e alvo deixam de ser duas entidades opostas, para se unirem numa única realidade. (...) Este estado de não-consciência só é alcançado quando o arqueiro se desprende e liberta inteiramente do seu Ego, quando forma uma unidade com a perfeição da perícia técnica."
Transcendendo as observações realizadas com estas crianças, poder-se-ia também fazer evoluir este raciocínio do futebol infantil para o futebol de alta competição da equipa-sénior do F.C. Porto. Senão, vejamos o que disse Jesualdo Ferreira a propósito do jogo da 1ª mão da eliminatória com o Manchester United: “Na altura, disse aos jogadores que tínhamos de ser tacticamente inconscientes. E fomos.” Para além da inconsciência da bola já referida, há um estádio mais avançado que é a própria inconsciência da táctica, que se adquire após muito treino e entrosamento de uma outra mecânica íntima do jogo. Quando os jogadores se habituam uns aos outros, em rotinas definidas e treinadas, o jogador deve ser capaz de se “esquecer” da táctica, de a tornar inconsciente. Superar a táctica é torná-la em acto sem mediação da razão consciente.
 Estas obervações assemelham-se muito às realizadas por Suzuki, no prefácio do livro de Eugen Herrigel “Zen e a arte do tiro com arco”, acerca das lições de tiro ao arco com um mestre zen: “acima de tudo, pretende-se harmonizar o consciente com o inconsciente. (...) No que diz respeito ao tiro com arco, isto significa que atirador e alvo deixam de ser duas entidades opostas, para se unirem numa única realidade. (...) Este estado de não-consciência só é alcançado quando o arqueiro se desprende e liberta inteiramente do seu Ego, quando forma uma unidade com a perfeição da perícia técnica."
Estas obervações assemelham-se muito às realizadas por Suzuki, no prefácio do livro de Eugen Herrigel “Zen e a arte do tiro com arco”, acerca das lições de tiro ao arco com um mestre zen: “acima de tudo, pretende-se harmonizar o consciente com o inconsciente. (...) No que diz respeito ao tiro com arco, isto significa que atirador e alvo deixam de ser duas entidades opostas, para se unirem numa única realidade. (...) Este estado de não-consciência só é alcançado quando o arqueiro se desprende e liberta inteiramente do seu Ego, quando forma uma unidade com a perfeição da perícia técnica."quarta-feira, 3 de junho de 2009
a crise já chegou a este blog
Venho por este meio anunciar que o "Born to be Wilde", caso não tenham reparado, está a ser fortemente afectado pela Crise, sendo que estamos actualmente em regime de layoff. Pede-se ajuda às entidades competentes para que sejam solidários neste momento de crise e, como tal, solicito que este blog seja nacionalizado, e que se injectem 34567 mil milhões de euros para tapar uns buracos. Este comunicado é feito em nome do patronato e dos trabalhadores, uma vez que se trata, neste caso, da mesma e única pessoa. Neste caso a luta de classes encontra-se terrivelmente individualizada, sendo que se assiste não propriamente a um confronto de massas entre burguesia e proletariado, mas sim entre consciente e inconsciente, o id e o ego. Poder-se-ia objectar que o id é uma instância meramente representativa, na medida em que há em mim, certamente, tantos milhões de pulsões e instintos quantos trabalhadores há no mundo, altamente revindicativos. Poder-se ia também dizer que meu ego, orgão superior executivo, está neste momento em forte negociações internas, a discutir soluções para a crise, pelo que não há espaço para investimentos económicos românticos de grande envergadura. Dada à manifesta impotência para lidar com a crise actual, recai grande pressão sobre o orgão legislativo, o Super-Ego, tendo este sido a instância responsável por abrir este regime de expepção e decretado este layoff. Assim, sem mais delongas, despeço-me com votos de tudo volte à normalidade o mais cedo possível, e que a produção possa ser retomada normalmente, assim que haja condições propícias.
sábado, 16 de maio de 2009
sexta-feira, 15 de maio de 2009
Música para Escrever, ou Como Fazer um Poeta Segundo Chestov
Voltando após um período de ausência, venho responder ao comentário ao anterior post que lançou o desafio de "aconselhar música que catapulte a veia poética, ensaística ou estados de introspecção apropriados para a escrita". Ora, isso faz-me imensa confusão e lamento não saber dar uma resposta clara a esse respeito. Escolher música para futebolistas é mais simples, na medida em que é possível estabelecer uma associação de ritmos, tempos e movimento. O futebol vive de movimento corporal, físico, tal e qual uma dança. Jogar é dançar. Quanto à escrita, ela segue os tempos da imaginação e suas velocidades infinitas. São incontáveis possibilidades. Há milhões, infinitas possibilidades musicais que podem influenciar infinitos milhões de escritas possíveis. Não vale a pena estar a dizer que para escrever um poema moderno se deve ouvir Joy Division, que para escrever um haiku se deve ouvir jazz, que para escrever um poema místico se deve ouvir música indiana, que para escrever como o Nietzsche se deve ouvir Wagner, para escrever um guião de um filme sobre polícias e prostitutas se deve ouvir Tom Waits, ou que para escrever seja o que for não se deve ouvir coisa nenhuma, ou que para não escrever se deve jogar à bola, ou que para jogar xadrez se deve ouvir música de chuva. Descobrir uma música determinada que nos faça escrever alguma coisa é como apostar numa chave do euromilhões. É um tiro no escuro. Suponhamos que até temos sorte e esta semana achámos que era aquele número (música), ganhamos o prémio e ficamos ricos (escrevemos algo). O problema é que nada nos garante que aquela chave volte alguma vez a produzir novamente semelhante efeito. Ninguém sabe como é que se faz um escritor ou um poeta. Sobre isto, há uma passagem do Chestov que é esclarecedora:
 (Tradução) Poetae nascuntur - Que maravilhoso é o homem. Não sabendo nada sobre isso, afirma a existência de uma impossibilidade objectiva. Mesmo há pouco tempo, antes da invenção do telefone e telégrafo, os homens teriam afirmado ser impossível na Europa conversar com a América. Agora é possível. Não podemos produzir poetas, por isso, dizemos que é de nascença. Certamente não podemos fazer de uma criança um poeta forçando-o a estudar modelos literários, do mais antigo ao mais moderno. Nem ninguém nos ouvirá na América não importa quão alto gritemos aqui. Para fazer um poeta de um homem, ele não pode ser desenvolvido por caminhos normais. Talvez se deva mantê-lo afastado de livros. Talvez seja seja necessário executar nele uma operação aparentemente perigosa. Fracturar-lhe o crânio ou atirá-lo da janela do quarto andar. Abstenho-me de recomendar estes métodos como um substituto da pedagogia. Não é esse o ponto. Olhemos os grandes homens e os poetas. Excepto John Stuart Mill e alguns outros pensadores positivistas, que tinham pais experientes e mães virtuosas, nenhum dos grandes homens pode orgulhar-se, ou melhor, queixar-se, de uma educação apropriada. Nas suas vidas, quase sempre um papel decisivo foi desempenhado pelo acaso, acidente que a razão tornaria sem sentido, caso a razão pudesse alguma vez desafiar e levantar a sua voz contra o êxito evidente. Algo como uma crânio partido ou uma queda do quarto andar — não de forma metafórica, mas muitas vezes de forma absolutamente literal, comprovou ser o começo, normalmente escondido mas ocasionalmente admitido, da actividade dos génios. Mas repetimos automaticamente: poetae nascuntur, e convencemo-nos profundamente que esta verdade extraordinária é tão alta ele precisa de nenhuma verificação.
(Tradução) Poetae nascuntur - Que maravilhoso é o homem. Não sabendo nada sobre isso, afirma a existência de uma impossibilidade objectiva. Mesmo há pouco tempo, antes da invenção do telefone e telégrafo, os homens teriam afirmado ser impossível na Europa conversar com a América. Agora é possível. Não podemos produzir poetas, por isso, dizemos que é de nascença. Certamente não podemos fazer de uma criança um poeta forçando-o a estudar modelos literários, do mais antigo ao mais moderno. Nem ninguém nos ouvirá na América não importa quão alto gritemos aqui. Para fazer um poeta de um homem, ele não pode ser desenvolvido por caminhos normais. Talvez se deva mantê-lo afastado de livros. Talvez seja seja necessário executar nele uma operação aparentemente perigosa. Fracturar-lhe o crânio ou atirá-lo da janela do quarto andar. Abstenho-me de recomendar estes métodos como um substituto da pedagogia. Não é esse o ponto. Olhemos os grandes homens e os poetas. Excepto John Stuart Mill e alguns outros pensadores positivistas, que tinham pais experientes e mães virtuosas, nenhum dos grandes homens pode orgulhar-se, ou melhor, queixar-se, de uma educação apropriada. Nas suas vidas, quase sempre um papel decisivo foi desempenhado pelo acaso, acidente que a razão tornaria sem sentido, caso a razão pudesse alguma vez desafiar e levantar a sua voz contra o êxito evidente. Algo como uma crânio partido ou uma queda do quarto andar — não de forma metafórica, mas muitas vezes de forma absolutamente literal, comprovou ser o começo, normalmente escondido mas ocasionalmente admitido, da actividade dos génios. Mas repetimos automaticamente: poetae nascuntur, e convencemo-nos profundamente que esta verdade extraordinária é tão alta ele precisa de nenhuma verificação.Leon Chestov
De qualquer maneira, e para não fazer com que ninguém caia de uma varanda abaixo vou sugerir algo: "Trouble with imnpressionists" com Lou Reed e John Cale, numa homenagem a Andy Warhol:
terça-feira, 28 de abril de 2009
Rock e Futebol


No âmbito do meu estágio enquanto psicólogo do Futebol Clube do Porto, tive oportunidade de fazer parte da comitiva que levou uma equipa do escalão 97/98 da escola Dragon Force, ao torneio Rui Caçador em São Pedro do Sul, Viseu. Foi no sábado, dia 25 de Abril. Neste torneio todas as equipas realizaram dois jogos. Fomos bem recebidos, quer eu, quer jogadores e treinador. Relato isto na medida em que tive uma oportunidade de realizar uma intervenção a título experimental, que passou pela junção de rock e futebol. Antes do jogo, no balneário, e a seguir à palestra do treinador, propus aos jogadores que, ao som de Guerrilla Radio dos Rage Against the Machine, abanassem a cabeça, saltassem e dançassem à vontade. O objectivo passava por promover sentimentos de alegria, segurança, confiança e positividade no momento anterior à competição. Há estudos que demonstram que a música pode ter efeitos sobre os níveis de excitação (Lukas, n.d.; Nilsson, Unosson, & Rawal, 2005), motivação (Karageorghis & Terry, 1997) e ajudar a melhorar performances atléticas (Dorney & Goh, 1992; Karageorghis & Terry, 1997; Krumhansl, 2002).
Blood, Zatorre, Bermudez, and Evans (1999) dizem que nossas emoções estão ligadas à música por intermédio da memória e de processos de associação. A expressividade da música tem muito que ver com o seu poder de evocar experiências emocionais imaginativas.
Quanto ao tipo de música, Krumhansl (2002) refere que quando se ouve música dançável de tempos rápidos, a emoção básica mais comum é a alegria. No estudo de Sorenson, L., Czech, D.R., Gonzalez, Klein, S.J., Lachowetz, T. (2008), fizeram entrevistas a vários jogadores de futebol, ténis e futebol americano acerca da sua relação com o uso da música no desporto, tendo alguns dado alguns testemunhos:
“É a batida. É algo que me faz mexer mais rápido.” ; Segundo este estudo, os participantes usavam a música para aumentar a excitação antes do jogo, por o corpo a mexer e o sangue correr, assim como dar energia e agressividade em determinados instantes.
Assim, fechando as janelas do balneário, através de umas pequenas colunas ligadas ao leitor de MP3, pude participar em primeira mão de um balneário em polvorosa com jovens jogadores em ebulição, saltando, trepando às paredes, aos encontrões, berros e mosh uns em cima dos outros.
No fim pedi aos jogadores que entrassem em campo com aquele espírito. Que fizessem um jogo com rock. Saíram do balneário para o aquecimento e de seguida cilindraram o adversário por 9-0. Procedeu-se da mesma forma no segundo jogo, à tarde, tendo o mesmo sido mais equilibrado, ficando-se pelos 3-0 com um excelente golo de canto directo. Não sei se o rock melhorou o futebol da equipa, mas foi sem dúvida uma boa experiência. Quem quiser saber mais, aconselho a leitura deste artigo.
segunda-feira, 20 de abril de 2009
Democracia Representativa segundo Albert Cossery
 "- Ora ouve! O caso passou-se há pouco tempo, numa aldeola do Baixo Egipto, durante as eleições para a junta de freguesia. Quando os funcionários do Governo abriram as urnas, notaram que na maioria dos boletins de voto estava escrito o nome Bargute. Ora os ditos funcionários do Governo não conheciam tal nome, que não figurava na lista de nenhum partido. Inquietos, logo se puseram à cata de informações; e acabaram por saber, pasmados de todo, que Bargute era o nome dum burro por quem toda a gente da aldeia nutria muita estima, por via da sabedoria do animal. Quase todos os moradores tinham votado nele. Que me dizes tu a esta história? Gohar respirou com júbilo; sentia.se extasiado. «São ignorantes e iletrados», disse para consigo, «e no entanto acabam de fazer a coisa mais inteligente conhecida no mundo desde que há eleições». O comportamento destes camponeses perdidos no cu de Judas constituía o reconfortante testemunho sem o qual a vida se tornaria impossível. Gohar sentia-se derretido de admiração. (...) - Admirável - exclamou Gohar. - E como acaba a história? - É claro, não foi eleito. Estás tu a ver, um burro de quatro patas! O que eles queriam, lá os do governo, era um burro só de duas patas."
"- Ora ouve! O caso passou-se há pouco tempo, numa aldeola do Baixo Egipto, durante as eleições para a junta de freguesia. Quando os funcionários do Governo abriram as urnas, notaram que na maioria dos boletins de voto estava escrito o nome Bargute. Ora os ditos funcionários do Governo não conheciam tal nome, que não figurava na lista de nenhum partido. Inquietos, logo se puseram à cata de informações; e acabaram por saber, pasmados de todo, que Bargute era o nome dum burro por quem toda a gente da aldeia nutria muita estima, por via da sabedoria do animal. Quase todos os moradores tinham votado nele. Que me dizes tu a esta história? Gohar respirou com júbilo; sentia.se extasiado. «São ignorantes e iletrados», disse para consigo, «e no entanto acabam de fazer a coisa mais inteligente conhecida no mundo desde que há eleições». O comportamento destes camponeses perdidos no cu de Judas constituía o reconfortante testemunho sem o qual a vida se tornaria impossível. Gohar sentia-se derretido de admiração. (...) - Admirável - exclamou Gohar. - E como acaba a história? - É claro, não foi eleito. Estás tu a ver, um burro de quatro patas! O que eles queriam, lá os do governo, era um burro só de duas patas."Albert Cossery em Mendigos e Altivos
quinta-feira, 16 de abril de 2009
Sobre Darwin e a Evolução: Síntese - Simbiogénese, Teilhard Chardin e Chesterton



Vimos no post anterior como Darwin foi recebido de forma ambivalente por Marx e Engels. Se, por um lado, as descobertas de Darwin situam a evolução da espécie humana como o resultado de sucessivas e intermináveis mutações e transformações, que suporta a visão dialéctica marxista da história, por outro lado criticam a visão próxima de Malthus e Hobbes, que vê a evolução como resultado da selecção natural fundada numa luta pela sobrevivência através da competitividade egoísta.
Engels é aliás bastante preciso sobre esta última questão nas cartas a Pyotr: "Da doutrina Darwiniana aceito a teoria da evolução, mas o método de prova de Darwin (luta pela sobrevivência, selecção natural), considero-a apenas uma primeira expressão imperfeita e provisória de um facto recentemente descoberto. (...) A interacção de corpos na natureza - animados e inanimados - inclui tanto harmonia como colisão, disputa e cooperação.
As pertinentes observações de Engels encontraram eco nas descobertas posteriores do biólogo russo Constantin Merezhkovsky que introduziu à 100 anos, em 1909, o conceito de simbiogénese que é definido como a origem de organismos pela combinação ou associação
de dois ou vários seres através de processos simbióticos. A simbiogénese é um mecanismo evolutivo e simbiose o veículo através do qual esse mecanismo ocorre.
As nossas células, por exemplo, são um exemplo de simbiogénese: todas as células animais contém mitocôndrias, que são o que produz energia para os nossos organismos. A mitocôndria é abastecida pela célula que a hospeda por substâncias orgânicas como oxigénio e glicose, as quais processa e converte em energia sob a forma de ATP que devolve para a célula hospedeira. Acontece que, originariamente, as mitocôndrias existiam isoladas foram das células que nós conhecemos e de que somos feitos. Através deste casamento feliz, pôde-se desenvolver toda a vida animal como a conhecemos.
Se Merezhkovsky a princípio se opunha à selecção natural de Darwin, actualmente aquilo que se chama de Neo-Darwinismo faz a síntese entre estas duas perspectivas. Assim, o motor da evolução da história natural seriam estas duas "forças" que se complementam: uma competitiva e outra cooperativa. Serão estas duas forças correspondentes às pulsões de vida e de morte de Freud? Teriámos por um lado Thanatos, o instinto da vontade de domínio e poder sobre os restantes espécimes em complemento a Eros, a procura do prazer e da profusão da espécie. Aliás, uma das tópicas de Darwin menos conhecidas, é precisamente a noção de selecção sexual, que é um outro mecanismo à parte em conjunto com a selecção natural, que explicaria muitos da evolução humana. A selecção sexual, seria o momento menos conhecido de Darwin onde ele é mais "Freudiano".
Depois de vermos tambem a analogia que Deleuze fez entre a selecção natural de Darwin e o princípio da realidade de Freud, poderíamos também associar o princípio do prazer à simbiogénese, normalmente mais ligado a pequenas partículas, e assim estender os conceitos de amor e desejo à matéria ínfima. Poderíamos aplicar o princípio do prazer à associação entre células e respectivas mitocôndrias. Na verdade, na visão evolucionista, o homem perde seu lugar privilegiado no centro do da natureza e da cosmogonia. E isto é um choque para o narcisismo e megalomania do homem, como bem adverte Freud. Isto tem consequências para a visão teocêntrica do universo, segundo a qual o mundo seria feito por um Deus transcendente, figura paterna que teria no Homem o seu "filho preferido".
É claro que muitos indivíduos, povos e culturas não estão ainda, mais de um século depois, preparados para aceitar todas as consequências da teoria da evolução. Ela significa que deixamos de poder dispor de uma mitologia que nos garante uma ideia de Eu fixa e determinada, através de um passado e um futuro bem definidos.
Neste campo, a ideia dos criacionistas é tentar preservar a cosmogonia simpática segundo todos nós viemos de Deus e voltaremos um dia para Deus. O que aqui está em causa é uma visão do ser humano como algo de fixo e imutável. Relaciona-se com uma ideia estável de Eu, que se define por ideias eternas e determinadas. Isto é uma perspectiva perfeitamente racionalista. Aliás, o próprio nome da teoria que oferecem em contraponto com a teoria da evolução, é revelador: Intelligent Design. Design Inteligente. O universo é algo que foi feito de uma forma planeada, pensada, controlada. Assim sendo, não é justo acusar os criacionistas de fanatismo ou algo que se pareça. Pelo contrário, o criacionismo é uma ideologia do mais extremo racionalismo. Encaixa na análise que Zizek faz quando diz que Deus é uma excepção consitutiva, um milagre, que permite com que o resto do mundo seja completamente racional. A teoria da evolução é sim, uma teoria bastante mais poética e milagrosa, como Chestov nos mostra quando, baseando-se nela, uma pedra se pode transformar numa planta, e uma planta num animal e, assim sucessivamente, tudo é possível.
Teilhard Chardin viu na teoria da evolução todo este potencial poético, milagroso e divino. Tentou fazer uma síntese entre o Cristianismo e a teoria da evolução. Para Chardin, se o mundo era concebido como algo fixo, acabado, como um sistema de elementos estáveis
em equilíbrio fechado, o mundo deixa de ser visto como algo estático para ser descrito como uma massa em vias de transformação. O universo é um processo de evolução e vai convergindo, à medida que a evolução avança, para formas cada vez mais organizadas. Teilhard denomina esse fenómeno de Cosmogénese.
É esta teoria da evolução levada às últimas consequências que inaugura a ideia de progresso, e o endeusamento do futuro ou, como diz Deleuze, o tempo deixa de ser curvado por um Deus que o fazia depender do movimento. (...) Tudo aquilo que se move e se altera está no tempo, mas o próprio tempo não se altera, não se move, nem sequer é eterno.
Não será isto a ideia de Chesterton de que trocámos a adoração do passado pelo endeusamento do futuro? Só neste contexto é que se cria o lugar para o surgimento da chamada ficção científica: o romance do futuro. Em vez de as histórias se contarem num "Há muito tempo atrás...", passam a ser contadas na fórmulas "daqui a muitos milhares de anos" Há um artigo de Chesterton, do início do séc. XX, que resume as consequências da teoria da evolução na modernidade. Chama-se The Fear of the Past:
The last few decades have been marked by a special cultivation of the romance of the future. We seem to have made up our minds to misunderstand what has happened; and we turn, with a sort of relief, to stating what will happen- which is (apparently) much easier. The modern man no longer presents the memoirs of his great grandfather; but is engaged in writing a detailed and authoritative biography of his great-grandson. Instead of trembling before the specters of the dead, we shudder abjectly under the shadow of the babe unborn.
(Tradução: As últimas décadas foram marcadas por um especial cultivo do romance do futuro. Parece que nos convencemos a distorcer o que aconteceu; e viramo-nos, com uma espécie de alívio, para dizermos o que vai acontecer - o que é (aparentemente) bastante mais fácil. O homem moderno já não apresenta as memórias dos seus avós; mas está empenhado em escrever uma biografia detalhada e autoritária dos seus netos. Ao invés de tremer face aos espectros dos mortos, temos um medo abjecto da sombra dos bebés por nascer.)
Vale a pena ler aqui o texto completo deste fantástico ensaio de G. K. Chesterton. Termino (re)lembrando as palavras do sociólogo polaco Zygmunt Baumann:
"A modernidade é o que é - uma obsessiva marcha adiante -, não porque queira sempre mais, mas porque nunca consegue o bastante; não porque se torna mais ambiciosa e aventureira, mas porque as suas aventuras são mais amargas e as suas ambições frustradas. (...) Estabelecer uma tarefa impossível não significa amar o futuro mas desvalorizar o presente. O presente está sempre "a querer", o que o torna feio, abominável e insuportável."
Engels é aliás bastante preciso sobre esta última questão nas cartas a Pyotr: "Da doutrina Darwiniana aceito a teoria da evolução, mas o método de prova de Darwin (luta pela sobrevivência, selecção natural), considero-a apenas uma primeira expressão imperfeita e provisória de um facto recentemente descoberto. (...) A interacção de corpos na natureza - animados e inanimados - inclui tanto harmonia como colisão, disputa e cooperação.
As pertinentes observações de Engels encontraram eco nas descobertas posteriores do biólogo russo Constantin Merezhkovsky que introduziu à 100 anos, em 1909, o conceito de simbiogénese que é definido como a origem de organismos pela combinação ou associação
de dois ou vários seres através de processos simbióticos. A simbiogénese é um mecanismo evolutivo e simbiose o veículo através do qual esse mecanismo ocorre.
As nossas células, por exemplo, são um exemplo de simbiogénese: todas as células animais contém mitocôndrias, que são o que produz energia para os nossos organismos. A mitocôndria é abastecida pela célula que a hospeda por substâncias orgânicas como oxigénio e glicose, as quais processa e converte em energia sob a forma de ATP que devolve para a célula hospedeira. Acontece que, originariamente, as mitocôndrias existiam isoladas foram das células que nós conhecemos e de que somos feitos. Através deste casamento feliz, pôde-se desenvolver toda a vida animal como a conhecemos.
Se Merezhkovsky a princípio se opunha à selecção natural de Darwin, actualmente aquilo que se chama de Neo-Darwinismo faz a síntese entre estas duas perspectivas. Assim, o motor da evolução da história natural seriam estas duas "forças" que se complementam: uma competitiva e outra cooperativa. Serão estas duas forças correspondentes às pulsões de vida e de morte de Freud? Teriámos por um lado Thanatos, o instinto da vontade de domínio e poder sobre os restantes espécimes em complemento a Eros, a procura do prazer e da profusão da espécie. Aliás, uma das tópicas de Darwin menos conhecidas, é precisamente a noção de selecção sexual, que é um outro mecanismo à parte em conjunto com a selecção natural, que explicaria muitos da evolução humana. A selecção sexual, seria o momento menos conhecido de Darwin onde ele é mais "Freudiano".
Depois de vermos tambem a analogia que Deleuze fez entre a selecção natural de Darwin e o princípio da realidade de Freud, poderíamos também associar o princípio do prazer à simbiogénese, normalmente mais ligado a pequenas partículas, e assim estender os conceitos de amor e desejo à matéria ínfima. Poderíamos aplicar o princípio do prazer à associação entre células e respectivas mitocôndrias. Na verdade, na visão evolucionista, o homem perde seu lugar privilegiado no centro do da natureza e da cosmogonia. E isto é um choque para o narcisismo e megalomania do homem, como bem adverte Freud. Isto tem consequências para a visão teocêntrica do universo, segundo a qual o mundo seria feito por um Deus transcendente, figura paterna que teria no Homem o seu "filho preferido".
É claro que muitos indivíduos, povos e culturas não estão ainda, mais de um século depois, preparados para aceitar todas as consequências da teoria da evolução. Ela significa que deixamos de poder dispor de uma mitologia que nos garante uma ideia de Eu fixa e determinada, através de um passado e um futuro bem definidos.
Neste campo, a ideia dos criacionistas é tentar preservar a cosmogonia simpática segundo todos nós viemos de Deus e voltaremos um dia para Deus. O que aqui está em causa é uma visão do ser humano como algo de fixo e imutável. Relaciona-se com uma ideia estável de Eu, que se define por ideias eternas e determinadas. Isto é uma perspectiva perfeitamente racionalista. Aliás, o próprio nome da teoria que oferecem em contraponto com a teoria da evolução, é revelador: Intelligent Design. Design Inteligente. O universo é algo que foi feito de uma forma planeada, pensada, controlada. Assim sendo, não é justo acusar os criacionistas de fanatismo ou algo que se pareça. Pelo contrário, o criacionismo é uma ideologia do mais extremo racionalismo. Encaixa na análise que Zizek faz quando diz que Deus é uma excepção consitutiva, um milagre, que permite com que o resto do mundo seja completamente racional. A teoria da evolução é sim, uma teoria bastante mais poética e milagrosa, como Chestov nos mostra quando, baseando-se nela, uma pedra se pode transformar numa planta, e uma planta num animal e, assim sucessivamente, tudo é possível.
Teilhard Chardin viu na teoria da evolução todo este potencial poético, milagroso e divino. Tentou fazer uma síntese entre o Cristianismo e a teoria da evolução. Para Chardin, se o mundo era concebido como algo fixo, acabado, como um sistema de elementos estáveis
em equilíbrio fechado, o mundo deixa de ser visto como algo estático para ser descrito como uma massa em vias de transformação. O universo é um processo de evolução e vai convergindo, à medida que a evolução avança, para formas cada vez mais organizadas. Teilhard denomina esse fenómeno de Cosmogénese.
É esta teoria da evolução levada às últimas consequências que inaugura a ideia de progresso, e o endeusamento do futuro ou, como diz Deleuze, o tempo deixa de ser curvado por um Deus que o fazia depender do movimento. (...) Tudo aquilo que se move e se altera está no tempo, mas o próprio tempo não se altera, não se move, nem sequer é eterno.
Não será isto a ideia de Chesterton de que trocámos a adoração do passado pelo endeusamento do futuro? Só neste contexto é que se cria o lugar para o surgimento da chamada ficção científica: o romance do futuro. Em vez de as histórias se contarem num "Há muito tempo atrás...", passam a ser contadas na fórmulas "daqui a muitos milhares de anos" Há um artigo de Chesterton, do início do séc. XX, que resume as consequências da teoria da evolução na modernidade. Chama-se The Fear of the Past:
The last few decades have been marked by a special cultivation of the romance of the future. We seem to have made up our minds to misunderstand what has happened; and we turn, with a sort of relief, to stating what will happen- which is (apparently) much easier. The modern man no longer presents the memoirs of his great grandfather; but is engaged in writing a detailed and authoritative biography of his great-grandson. Instead of trembling before the specters of the dead, we shudder abjectly under the shadow of the babe unborn.
(Tradução: As últimas décadas foram marcadas por um especial cultivo do romance do futuro. Parece que nos convencemos a distorcer o que aconteceu; e viramo-nos, com uma espécie de alívio, para dizermos o que vai acontecer - o que é (aparentemente) bastante mais fácil. O homem moderno já não apresenta as memórias dos seus avós; mas está empenhado em escrever uma biografia detalhada e autoritária dos seus netos. Ao invés de tremer face aos espectros dos mortos, temos um medo abjecto da sombra dos bebés por nascer.)
Vale a pena ler aqui o texto completo deste fantástico ensaio de G. K. Chesterton. Termino (re)lembrando as palavras do sociólogo polaco Zygmunt Baumann:
"A modernidade é o que é - uma obsessiva marcha adiante -, não porque queira sempre mais, mas porque nunca consegue o bastante; não porque se torna mais ambiciosa e aventureira, mas porque as suas aventuras são mais amargas e as suas ambições frustradas. (...) Estabelecer uma tarefa impossível não significa amar o futuro mas desvalorizar o presente. O presente está sempre "a querer", o que o torna feio, abominável e insuportável."
Assinar:
Postagens (Atom)





